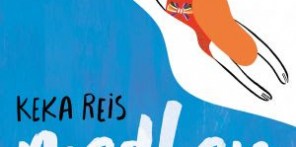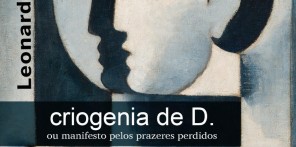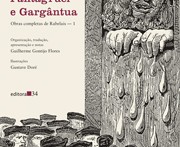*Por Tracy Mann/ Tradução de Santiago Nazarian*
Na cena de abertura do filme brasileiro indicado ao Oscar, “Ainda Estou Aqui”, uma mulher flutua prazerosamente nas águas da Baía de Guanabara. Vemos seu mundo levemente desfocado, um efeito que reproduz os tons pixelados, de baixa resolução, dos anos 1970.
Em poucos instantes, um helicóptero militar vai surgir como uma nuvem negra no céu. Mas essa primeira cena é serena, de uma beleza delicada.
Eu aterrissei no Brasil de 1973, dois anos após o sequestro de Rubens Paiva. Eu era uma intercambista estadunidense de dezessete anos, e o pouco que eu sabia sobre o Brasil era que a língua local era o português, que o clima era tropical, e que a música de João Gilberto era o que havia de mais bacana para meus pais. Eu era a mulher embalada pelas ondas, alheia à existência das tempestades fora do meu campo de visão.

O diretor Walter Salles e eu nascemos com poucas semanas de diferença. Sua amizade com a família Paiva o apresentou a um mundo de conversas profundas e uma visão de um Brasil futuro bem diferente do que parecia possível naquele momento. Ele diz que ao fazer “Ainda Estou Aqui” “Eu tentei estender esse convite, permitir que o espectador fizesse parte dessa comunidade, que eu tive a sorte de conhecer na adolescência.” Ao reconstruir essa memória, o exercício cinematográfico de Salles tem dois objetivos: dar luz a uma parte da história brasileira que foi anulada por uma anistia (ou amnésia) generalizada e sintetizar o passado que o tornou um artista.
“Ainda Estou Aqui” se comunica comigo nessas duas formas. A visão bucólica da família Paiva, antes do sequestro de Rubens, me lembra do clima dos meus primeiros dias como hóspede em casas de família do Rio e de São Paulo. Adolescente se aproximando da idade adulta, eu bebia uísques aguados em boates à beira-mar, que os Paiva talvez tenham conhecido. Eu aprendia os bons modos de comer pizza com garfo e faca e reparava que as legiões de empregadas, motoristas e porteiros que mantinham a vida da classe média nos trilhos eram compostas de pretos, pardos e indígenas.
“Eu Só Quero um Xodó” tocava incessantemente no rádio, na voz de Gilberto Gil. Só tomei conhecimento de uma ditadura militar quando alguém me explicou sobre a história de exílio do Gil. Como uma estudante estrangeira pôde ter sido enviada a uma realidade tão perigosa, eu me perguntava? Por causa do apoio do governo do meu próprio país, eu aprenderia. Comecei a ver a censura insidiosa que forçava as letras de Milton Nascimento a um puro vocalese (sons sem palavras), e matérias jornalísticas transformadas em poemas cifrados.
Na São Paulo de 1974, durante as marchas de abril, quando a polícia militar invadiu a Universidade de São Paulo para prender professores e alunos contrários ao regime, amigos me levaram a um cinema no centro. Nessa época, o centro da cidade não era especialmente acolhedor. Fiquei surpresa em ser conduzida a um cinema lotado, anunciando filmes pornôs na fachada. Na tela, cenas em preto e branco da polícia batendo em estudantes, militares apontando armas para gente reunida em arquibancadas. As imagens pareciam ter sido editadas às pressas, de forma amadora, sugerindo que foram capturadas por câmeras clandestinas, que não deveriam ter testemunhado esses horrores. Eu me lembro de que a sessão foi curta, acabando do nada, sem aplausos, e que saímos da sala e olhamos para os dois lados da rua, para ver se tinha alguém nos espionando.
Nessa época, a roleta da sorte que decidia a casa que me receberia felizmente havia me deixado com a família de Vera Zimmerman (então criança pequena), onde política era livremente discutida (assim como na casa dos Paiva). Escutávamos a música de Astor Piazzolla, Chico Buarque, Milton Nascimento e liamos Clarice Lispector. Nossas conversas esbarravam nas notícias de golpes militares espalhando-se como doença pelo sul da América Latina. O Chile havia sucumbido em 1973; a Argentina seguiria três anos depois.
Viajei ao nordeste com a irmã da Vera, a Silvia, para a Bahia, onde encontrei descendentes de revolucionários que haviam lutado contra o Império no século XIX. Eles viviam em luta. Eram artistas e dissidentes, músicos e ativistas. Assim como Salles, tive o privilégio de ser aceita por uma comunidade de possibilidades. Em Salvador, era fácil dar com os artistas que imaginavam um Brasil diferente, e que prosperavam apesar da repressão: o próprio Gil, recente chegado do exílio, o mestre sanfoneiros Dominguinhos, o diretor teatral José Possi Neto, o fotógrafo Mário Cravo Neto, os sertanejos que me apresentaram às lendas de Lampião e de Antônio Conselheiro – esses brasileiros maravilhosos foram meus professores e abriram as portas do mundo para mim.
Ainda assim, mesmo na bolha da Bahia, o espectro da ditadura não podia ser desprezado. Antes de terminar meu primeiro ano no Brasil, eu sobrevivi a um encontro com o DOPS (departamento de ordem política e social) nos paralelepípedos de Ouro Preto, onde as calças boca-de-sino e os longos cabelos do meu namorado foram o suficiente para nos tornar objeto de suspeitas. O momento mais tenso de meus três anos de viagem ocorreu num teatro em São Paulo, onde assisti policiais apontando metralhadoras para Gilberto Gil, esperando pela menor provocação para arrancá-lo do palco. Meu próprio destino acabaria sendo determinado pelo governo militar, que me mandou de volta aos EUA, deixando um afastamento de mais de um quarto de século no meu caso de amor pelo Brasil.
“Ainda Estou Aqui” chegou aos cinemas numa época em que noções de autoritarismo voltaram à toda, após décadas. Meu país agora é o protagonista, mas talvez o Brasil não esteja muito atrás. Salles nos mostra não só o preço humano que pagamos pela resistência, mas o custo ainda maior de nos mantermos em silêncio.
Na cena final do filme, a câmera foca o rosto envelhecido de Eunice Paiva, enquanto ela assiste a antigas notícias do sequestro de seu marido. Como minha eterna amiga, a fotógrafa baiana Rita Barreto, Eunice sofre de Alzheimer, e não consegue mais falar. Ainda assim, quando a imagem de seu marido Rubens surge na tela, uma leve luz aparece em seus olhos. A memória foi acionada pela imagem, uma téssera cinematográfica que junta saudades e luto, o dito e o não-dito.
*
Tracy Mann é norte-americana, apaixonada pelo Brasil. Seu primeiro romance, O Mundo Todo É Bahia (a ser publicado pela Laranja Original em 2026), retrata seu intercâmbio no país de Ainda Estou Aqui, início dos anos 1970, em plena ditadura, e seu contato com lendas da Tropicália.