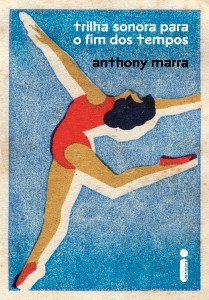Kirovsk, 1937-2013
Melhor começar pelas avós. A avó de Galina era a estrela do campo de trabalhos forçados, enquanto as nossas eram seu público. As nossas tinham sido confeiteiras, datilógrafas, enfermeiras e operárias antes que a polícia secreta batesse a sua porta no meio da noite. Deve ser algum erro, pensaram elas, algum engano burocrático. Como poderia a jurisprudência soviética permanecer infalível, se falhasse em reconhecer a inocência? Algumas se aferravam à descrença enquanto se espremiam nos trens que atravessavam a estepe siberiana rumo ao leste, os nomes de prisioneiras anteriores assombrando em giz borrado as paredes internas dos vagões. Algumas ainda se mantinham descrentes enquanto eram empurradas à força a bordo de barcaças e transportadas para o norte em vapores que singravam o Ienissei. Mas, ao desembarcarem na tundra vitrificada, sua ilusão era consumida pelo brilho intenso do infindável sol de verão. Em cidades distantes, eram expurgadas de suas próprias histórias. Nas fotografias, passavam a ostentar máscaras de nanquim. Nunca as conhecemos, mas somos a prova de que existiram. Cem quilômetros ao norte do Círculo Ártico, elas construíram o nosso lar.
E pronto, já estamos falando de novo sobre nós mesmas.Vamos começar pela avó de Galina, primeira-bailarina do Kirov por cinco temporadas antes de ser presa por envolvimento com uma rede polonesa de sabotadores. Era uma farpa longa e magra de beleza cravada no insípido tom cinzento de qualquer rua movimentada da nossa cidade. Embora tenha percorrido os mesmos trilhos e rios que as nossas avós, seu destino não foi ir às minas. O diretor do campo de trabalhos forçados era um connaisseur de balé, além de ser um sociopata com olhos que brilhavam de malícia. Tinha visto a avó de Galina interpretar Raymonda em Leningrado dois anos antes e fora um dos primeiros espectadores a ficar de pé para ovacioná-la. Quando viu o nome dela na lista de prisioneiros, sorriu — ocorrência rara em sua linha de trabalho. Fez seu copinho de vodca tinir contra o de seu assistente e propôs um brinde:
— Ao poder da arte soviética, que de tão grande chega até o Ártico. Durante seu primeiro ano no campo de trabalhos forçados, a avó de Galina foi tratada mais como hóspede que como prisioneira. Seu quarto privativo era austero mas limpo, com uma cama de solteira, uma cômoda para suas roupas, uma fornalha a lenha. Várias vezes por semana, o diretor do campo a convidava para um chá em seu escritório. Sentados em lados opostos de uma mesa abarrotada de fichas, papelada relativa a cotas, circulares e diretivas, conversavam sobre o método Vaganova, sobre o comprimento que devia ter o fêmur de uma primeira-bailarina, se Tchaikovsky tivera mesmo tanto medo de perder a cabeça enquanto regia que a segurara com a mão esquerda. Galina definia o diretor do campo como “um leal cidadão da República Popular da Estupidez” por sua insistência em afirmar que O lago dos cisnes continha o mais sofisticado dos pas de deux de Marius Petipa. Ninguém mais, além do sobrinho de seis anos do diretor, atrevia-se a falar com ele de maneira tão brusca, mas nem assim ele reduzia as rações da avó de Galina ou lhe metia nove gramas de chumbo na cabeça. Limitava-se a oferecer-lhe mais chá e sugeria que poderiam chegar a um consenso na semana seguinte, o que a fazia responder que “o consenso é o objetivo dos idiotas”. Não temos como não amar esta mulher, pelo menos um pouco. Assim como também não podia evitar o diretor do campo.
No ano seguinte, ele pediu à avó de Galina que criasse e ensaiasse uma pequena companhia de balé, e dançasse com ela para seu deleite pessoal e para levantar o moral do campo. O conjunto ensaiou três meses antes de estrear.Algumas integrantes tinham feito aulas de balé na infância, e o restante tinha alguma experiência com danças camponesas. Depois de muitas tardes longas, o diretor do campo e a avó de Galina optaram por uma apresentação resumida de O lago dos cisnes. A companhia ensaiou passos designados por um francês questionável até que todas ficassem com os pés tomados por bolhas. A memória muscular ia se reeducando à medida que a avó de Galina, valendo-se de intimidações verbais, forçava aquelas inimigas do povo a incorporar a elegância. Foi ficando cada vez menos claro se ela era uma interna, a captora ou as duas coisas. Depois que músculos distendidos ficaram mais firmes e os dedos inchados dos pés finalmente recuperaram sua forma, depois que a cortina se ergueu e um dos holofotes de vigilância do campo iluminou a extremidade oposta da cantina, ficou evidente para todos que o palco estava armado para algo extraordinário.
Nossas avós se acomodaram nos bancos da cantina que formavam a plateia, e a produção foi, como se pode imaginar, um fiasco. A orquestra mais próxima estava a 1.800km dali, de maneira que a música vinha do cone empoeirado de um gramofone, usado até então para guardar cebolas. A coreografia demandava dezenas de bailarinas; o conjunto formado tinha dez, quatro das quais usavam bigodes pintados a carvão para representar Siegfried, Von Rothbart e os vários lacaios, tutores e cavalheiros da corte. O lago propriamente dito tinha uma população escassa de aves aquáticas; a piada que surgiria mais tarde é que os caçadores da nkvd tinham chegado antes. Houve erros e passos trocados, e em vários momentos a música avançava deixando as bailarinas perdidas em seu rastro. Mas então a avó de Galina, sozinha no palco, entrava deslizando sob um foco de luz. Os cabelos lavados e adornados de plumas, ombros brancos como o verão polar, pés calçados com sapatilhas de cetim verdadeiro. Na plateia, nossas avós estavam em silêncio. Algumas transportadas de volta às salas de concerto, a comemorações de aniversário e flûtes de champanhe de suas vidas passadas. Outras aproveitaram o alívio do momento para cochilar. Mas a maioria, desconfiamos, ficou atônita. Depois de turnos de quatorze horas de trabalho nas minas, inalando tal quantidade de níquel que as fazia espirrar um muco prateado, nenhuma delas podia esperar uma apresentação particular da primeira-bailarina do Kirov.
A despeito dos muitos contratempos, o diretor do campo ficou extasiado.
Nos oito anos seguintes, patrocinou apresentações de balé nos solstícios de verão e de inverno; mas ele não tinha ascendido à atual posição que ocupava dando coisas de graça. Para um homem determinado a extrair máxima produtividade de suas prisioneiras antes que morressem, o balé acabou sendo uma forma muito eficaz de coerção. Os lugares na plateia — e, com eles, rações melhoradas — eram reservados àquelas que excedessem suas cotas de trabalho, as quais não paravam de aumentar. A avó de Galina contribuiu para reduzir em vários anos a expectativa de vida de seu público.
Tudo se acabou no nono ano. Restavam à avó de Galina menos de três meses a cumprir antes de sua data de soltura, e o diretor do campo estava apaixonado. Uma pessoa como ele poderia de fato amar outro ser humano? Com algum pesar, admitimos que sim, que era capaz de se iludir a ponto de crer que se tratava disso. Temos alguma experiência com esse tipo de homem, não com os demais burocratas envolvidos com assassinatos em massa, é claro, mas namorados alcoólatras, maridos violentos, desconhecidos que cultivam a percepção errônea de que seus avanços devem ser recebidos como uma lisonja. A avó de Galina era a única mulher num raio de milhares de quilômetros que não sentia cem por cento de repulsa ao ver o diretor do campo. Talvez ele tenha confundido a falta de um desprezo absoluto com paixão? Quaisquer que fossem os seus motivos, ele a convocou ao seu escritório 85 dias antes da data prevista para o fim da sua sentença. A porta da sala fechou-se atrás dela e do que aconteceu depois disso só sabemos graças a rumores espalhados pelos guardas. Houve uma declaração de amor seguida de um momento que ainda surpreende, tantas décadas mais tarde, em que a avó de Galina rejeitou a investida do diretor. A essa altura da história, nossa admiração um tanto murcha por ela torna a se inflar, e nos sentimos um pouco mal por tê-la acusado de colaboracionismo. Mas o diretor do campo estava desacostumado à rejeição. Os guardas ouviram o som abafado de uma luta, um grito, roupas se rasgando. Enquanto o restante do campo dormia, o diretor tornava-se avô de Galina.
Ou talvez eles tivessem dormido juntos aquele tempo todo. Quem somos nós para dizer?
Passaram-se anos. A morte de Stálin, seguida da denúncia dos seus cri- mes, levou ao fechamento da prisão. Os responsáveis pela administração do campo foram transferidos do Ministério do Interior para o Ministério da Siderurgia, sem sequer trocarem de sala. O níquel continuou a ser extraído da terra pelas mesmas pessoas. Nossas avós se casaram com mineiros, técnicos em fundição, até mesmo antigos guardas da prisão. Permaneceram ali por causa do lucro e por motivos de ordem prática: os salários pagos nas minas de níquel do Ártico estavam entre os mais altos do país e os antigos prisioneiros encontravam dificuldades para obter a licença para voltar a suas terras de origem. A avó de Galina foi uma delas. Criou sua filha e lecionava na escola os princípios básicos do comunismo. O diretor do campo foi rebaixado do cargo e substituído por um figurão do partido. Em seu leito de morte, em maio de 1968, a avó de Galina agarrou o braço da enfermeira de plantão e murmurou: “Estou vendo, estou vendo, estou vendo.” E morreu antes de poder contar à enfermeira exatamente o que via.
Mas a história dela é a das nossas avós. A história de Galina é a nossa.
Galina nasceu em 1976. Como o obstetra não gostava de crianças, todos entenderam como um prognóstico de beleza futura quando ele não franziu a testa ao vê-la. À medida que ela crescia, todas nós só fizemos nos curvar ao pressentimento daquela primeira avaliação. Galina era mais parecida com a avó do que com os pais.
Nasceu filha de um mineiro e uma costureira que trabalhava numa confecção local, e sim, nossas mães tinham a família em bom grado nos primeiros anos da infância da menina. Conforme convinha, não chamavam atenção para si. Suas jornadas de trabalho eram infindáveis, coadunando com o segundo princípio do Código Moral do Construtor do Comunismo: trabalho consciente pelo bem da sociedade — aquele que não trabalha tampouco há de comer. Em casa, conversavam em voz alta o suficiente para que, através das paredes, nossas avós constatassem que não cultivavam qualquer segredo nefasto. Estranhamente, porém, não deixavam Galina brincar conosco, as outras crianças. Recusavam os convites para festinhas de aniversário, saíam cedo das festividades do Dia Internacional da Juventude Solidária. Aquilo deixava nossas mães desconfiadas. “São no mínimo arrogantes, na pior das hipóteses dois subversivos”, murmuravam elas enquanto acrescentavam geleia ao chá. Estávamos no final dos anos 1970, início dos 1980, e embora os expurgos tivessem se tornado apenas lembranças, a Glasnost ainda estava a poucos anos de distância. Nossa cidade era pequena, e rumores se transformavam em veredicto com facilidade. Quem podia esquecer a história de Vera Andreiévna, autora involuntária da denúncia contra a própria mãe, evento que tinha sido alardeado em todos os jornais, de Minsk a Vladivostok? A mãe de Galina talvez tivesse sofrido um destino parecido, não houvesse sido levada antes por um câncer de pulmão.
Não entendíamos por que Galina fora mantida longe de nós até a terceira série do primário. Saíamos para o almoço depois de recitar as tabuadas — tarefa fácil, pois éramos especialistas em memorizar e recitar. Galina pisou num cadarço solto do sapato e desabou, arremessando os livros ao ar e cain- do soterrada por eles. Nunca se viu um cadarço de sapato causar tamanha comoção.
— Não se mostra exatamente à altura da reputação da avó — comentou nossa professora.
E nós rimos, com o despeito de quem não tem um legado a zelar.
— O que isso quer dizer? — perguntou Galina.
Ela não sabia. E não podíamos acreditar. Nós nos apressamos, falando todas ao mesmo tempo, contando a história das apresentações de balé, da maldade do diretor do campo, do destino notável da avó de Galina. Ela ba- lançava a cabeça, tomada pela confusão, pela incredulidade e, finalmente, por orgulho.
Em casa, naquela noite, pediu para fazer aulas de balé.
— Balé? — perguntou o pai dela, a voz saindo rouca da garganta dolori- da, maltratada pelo pó de níquel.
Morreria aos 52 anos, excedendo por três anos a expectativa de vida de mineiros como ele.
— Ainda este ano você vai entrar para os Jovens Vai estar muito ocupada aprendendo sobre liderança e trabalho em equipe.
Mas Galina foi inflexível.
— Quero dançar balé, como a minha avó.
O pai suspirou e percorreu com as mãos a radiação escaldante que o aquecedor emitia. Ao longo dos anos, sempre se perguntara por que ele e a mulher escondiam o status de celebridade da família, mas a resposta era simples: eram comunistas fiéis, filhos do campo de trabalhos forçados, com uma filha que lembrava muito a avó. O pai de Galina sabia que sua melhor chance de prosperidade dependia de transformar qualquer aspecto excepcional na filha algo em desinteressante até que a voz coletiva a aceitasse como igual. Sem dúvida tinha ouvido falar da famosa reação de Lênin à Sonata no 23 de Beethoven: É uma música linda e etérea. Mas não consigo escutá-la. Ela me dá vontade de atingir a cabeça dos meus semelhantes por serem capazes de produzir tanta beleza a despeito do inferno abominável em que vivem. É preciso esmagar suas cabeças, esmagá-las sem dó nem piedade.
Mas, desde a morte de sua esposa, ele ficara mais indulgente e um tanto fatalista.
— Claro, Galya — disse
E no dia seguinte ela nos deu a notícia.
Gorbachev chegou ao poder no ano em que Galina começou a estudar balé, trazendo consigo a Glasnost, a Perestroika e a demokratizatsiya. Nossas mães passaram a resmungar um pouco mais alto e, enquanto transitávamos da pré ao final da adolescência, cada uma foi encontrando a própria voz. Começamos baixinho e fizemos bem de tomar cuidado; o chefão do partido na nossa cidade era tão cruel quanto o diretor do campo tinha sido e, como os sucessos do pop, as reformas políticas só nos chegavam muito depois de terem aparecido em Moscou. No inverno, quando o sol desaparecia por trás da noite de três meses, nos reuníamos em parques e terrenos baldios, debaixo dos ramos enferrujados de metal da Floresta Branca, nos aquecíamos em prédios de apartamentos abandonados e em cafés onde passávamos de mão em mão as páginas surradas de samizdats de Soljenítsin e Joseph Brodsky, dançávamos ao som de LPs do Queen que o professor de violino do pri- mo de segundo grau de alguém havia trazido da Europa, e usávamos calças jeans Levi’s contrabandeadas que sempre pareciam melhores nas mãos do que em nosso corpo.Trocávamos antigos ryobra — reproduções clandestinas do conteúdo dos vinis em folhas descartadas de raios X — por rocks banidos dos anos 1950 e 1960 que podiam ser tocados em gramofones a um volu- me discreto. Radiografias de costelas partidas, ombros deslocados, tumores malignos e vértebras comprimidas eram cortadas no formato aproximado de um círculo, e a música era gravada na superfície plástica, o furo central aberto pela brasa de um cigarro, e era glorioso saber que aquelas imagens da dor humana podiam esconder em seus sulcos um som tão puro e cheio de alegria como a voz de Brian Wilson. Nossos pais classificavam essa música de poluição capitalista, como se as manchas cancerosas nas radiografias tivessem sido produzidas por uma canção gravada do outro lado do mundo, e não pela poluição emitida pelas chaminés bem próximas de nossas janelas, esta sim de livre acesso a todos.
No verão, a devastação da terra impregnava as nuvens. Uma cerração amarela envolvia o ar da cidade como um verniz envelhecido. Dióxido de enxofre se erguia dos Doze Apóstolos, as doze fundições de níquel que rodeavam um lago de expurgo industrial. A chuva nos queimava a pele. A poluição se coagulava num teto denso que bloqueava a luz das estrelas. A lua pertencia ao passado de que nos falavam nossas avós. Aproveitávamos ao máximo nossos verões: dias sem aulas, noites sem trevas. O primeiro encontro, o primeiro beijo. Éramos tão desajeitadas, espinhas marcando nosso rosto no reflexo do espelho pela manhã, pelos em locais indesejados, e pensávamos na radiografia de câncer de pulmão que continha o Surfin’ Safari dos Beach Boys, refletindo sobre as maneiras como o corpo trai a alma e nos perguntando se crescer não seria um tipo de patologia à parte. Nos apaixonávamos e desapaixonávamos com uma frequência febril. Todo dia, nos transformávamos em pessoas que mais tarde nos arrependeríamos de ter sido.
Em dias claros percorríamos a Floresta Branca, um bosque artificial – feito de árvores de metal com folhas de plástico – construído nos anos prós- peros da era Brejnev, quando a mulher do chefão local do partido desenvolvera profunda nostalgia pelas bétulas de sua juventude. Na época em que caminhávamos entre elas, porém, os anos haviam devastado tanto a floresta quanto a mulher do chefão do partido, e as folhas de plástico acima da nossa cabeça eram tão murchas e sarapintadas de amarelo quanto o rosto da pró- pria. Seguimos em frente. A lama era uma mostarda em que afundávamos os pés ao caminhar. Do outro lado da floresta, contemplávamos a vasta extensão de resíduos sulfurosos que se propagava até o horizonte. Gritávamos. Proclamávamos. Ali não precisávamos falar baixo. Por poucas semanas, em julho, flores silvestres vermelhas brotavam em meio aos resíduos oxidados e a terra toda refulgia de uma beleza apocalíptica.
Mas a única cor sob a terra era um brilho metálico prateado. Nossos pais extraíam o minério da jazida de níquel mais produtiva do mundo com explosões que pontuavam seus turnos de doze horas. Os túneis da mina penetravam no solo por um quilômetro e meio, e no fundo o ar era tão pegajoso que mesmo em janeiro eles trabalhavam só de camiseta e horas mais tarde, quando voltavam para casa, rumavam trôpegos para o chuveiro deixando em seu rastro o sobretudo, o casaco, a camisa, a calça e o pó de níquel que, então seco, lhes cobria o peito, as costas e as pernas e, por alguns momentos antes do banho, nossos pais nos pareciam indestrutíveis, homens metálicos, homens reluzentes.
Outros metais também eram explorados — ouro, cobre, paládio, platina —, mas o níquel do norte era o sangue em nossas veias. Os Doze Apóstolos o separavam da ganga num calor de dois mil graus e a neve que caía vinha tin- gida de uma cor que dependia do que tinha queimado nas fornalhas no dia anterior: o vermelho do ferro, o azul do cobalto, o amarelo-ovo do níquel. Medíamos a prosperidade da economia pela extensão das lesões nas partes expostas da nossa pele. Mesmo quem jamais havia tragado um cigarro tinha tosse de fumante. Mas a aliança dos mineiros tomava conta de nós: férias em águas termais, festivais por toda a cidade no Dia Internacional doTrabalho, e os maiores salários municipais de quaisquer cidades dos onze fusos horários de toda a nação. Quando nossos pais adoeciam, a aliança providenciava leitos de hospital. Quando morriam, os ataúdes.
E, no meio disso tudo, Galina frustrava nossas expectativas mais depressa do que conseguíamos reduzi-las. A animação inicial da professora de balé ao ver seu nome na lista de alunas transformou-se em desalento. Embora tenha herdado a silhueta magnífica da avó, Galina dançava com a sutileza de uma avestruz descontrolada. Os exercícios básicos na barra já a deixavam de ponta-cabeça. Durante as apresentações, graças aos céus, era relegada aos menores papéis. Mas a verdade é que não devíamos ser tão severas com ela: se fosse neta de qualquer outra pessoa, nem sequer nos daríamos ao trabalho de atribuir seu modo de dançar a um distúrbio qualquer do ouvido interno. Além disso, vivemos livres do fardo da expectativa alheia — ninguém jamais previu que fôssemos nos destacar em qualquer atividade — e, por isso, não temos como compreender o que significa fracassar numa área onde parece- mos destinadas ao sucesso. Então parem de nos incitar. Estamos tentando verdadeiramente ser gentis.
Com nosso recém-conquistado espírito de generosidade, vamos falar de uma coisa em que Galina se saía muito bem: ser o centro das atenções. Chegou a uma festa no nosso primeiro ano de escola secundária usando uma minissaia verde-oliva costurada a partir do xale mais feio de sua mãe. Nunca tínhamos visto nada parecido — a mais discreta das peças de roupa conver- tida num escândalo enrolado em seus quadris. A saia terminava no meio das coxas, pouco maior que uma toalha de rosto, e o restante de suas pernas à mostra, a pele arrepiada. Os meninos a fitaram de boca aberta, em estado de graça, depois se viraram, como se reconhecessem que a presença de Galina constituía algum ato obsceno e ilegal. Ninguém sabia o que dizer. Não havia precedentes para minissaias no Ártico. Sussurramos que Galina tinha virado prostituta, mas ao chegar em casa todas começamos a produzir nossas pró- prias minissaias.
A minissaia atraiu a atenção de Kolya. Se fosse possível, usaríamos um aerógrafo para apagar Kolya da nossa história com a mesma obstinação com que os censores eliminaram a avó de Galina das fotografias que ela um dia povoou. A questão é que Kolya equivalia a duzentos metros de arrogância compactados em dois metros de corpo, o tipo de rapaz que faz qualquer moça se sentir inadequada se não for capaz de impressioná-lo. Estava sempre se debruçando ou inclinado para a frente, ou envergado de lado, como uma letra em itálico, torto até a aba torta do chapéu. Em outro país, podia ter se transformado num banqueiro de investimentos, mas aqui se tornou assassi- no, da pior espécie, a espécie que assassinou uma de nós.
Galina não tinha como imaginar que seria assim. Nenhuma de nós tinha como prever. Da primeira vez que saíram, ele convidou Galina para um passeio romântico ao redor do lago Mercúrio. Pois é, aquele lago Mercúrio.
O lago artificial que acumulava o expurgo tóxico das fundições industriais da cidade. No primeiro encontro. Juro. Mas isso é triste demais. Melhor esquecer Kolya, mesmo que para nós isso não seja possível.
Embora o xale-minissaia de Galina tenha escandalizado a escola, isso não a impediu de dançar em uma apresentação no quinquagésimo aniversário da aliança dos mineiros.Autoridades vieram do Kremlin em aviões a hélice para homenagear nosso chefão do partido. Os mais ineptos dos nossos burocratas receberam medalhas e comendas. Os homens de Gorbachev nos disseram que vivíamos no topo do globo para que o resto do mundo nos olhasse como superiores. Nossos pais ficaram radiantes quando o próprio secretário-geral lhes dirigiu um agradecimento gravado em vídeo. Mais que extrair da terra o combustível que alimenta a União Soviética, proclamou ele, vocês são o combustível que alimenta a União Soviética. A última noite de festejos terminou com uma apresentação de balé ao ar livre no centro da cidade. Bailarinos do Bolshoi e do Kirov foram trazidos de avião para os papéis principais. Contra todas as expectativas, Galina foi escolhida para o corpo de baile. Os Doze Apóstolos foram desligados duas semanas antes, e o sol de julho atravessava o que havia restado da cobertura de nuvens, iluminando Galina para nós.
Um muro caiu em outro continente, e logo se dissolveu a nossa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Oleg Voronov, um “novo russo” e futuro oligarca, substituiu o chefão do partido. Pela primeira vez em setenta anos, nossa cidade se viu aberta, e algumas de nós foram embora. Uma encontrou trabalho como bilheteira na linha de trem Omsk-Novosibirsk, casando-se tempos depois com um maquinista com quem teve três filhos homens. Outra obteve uma bolsa para estudar física em Volgogrado. Outra partiu para os Estados Unidos para se casar com um afinador de piano que tinha conhecido pela internet. Mas a maioria de nós ficou. O mundo estava girando para o lado errado. Não era hora de se afastar de casa.
Kolya — como a maioria dos rapazes da nossa turma que não consegui- ram pagar propina para ingressar em alguma universidade — foi convoca- do para o serviço militar obrigatório bem quando começava o conflito na Chechênia.Antes de partir, ele pedira Galina em casamento no corredor de legumes da mercearia da cidade, o que revela tudo que é necessário saber a respeito da ideia que ele tinha de romantismo. Galina estava grávida. O Exército admitia adiamento de incorporação para homens que fossem os únicos responsáveis por um filho, e de pais de dois ou mais filhos, o que dava várias opções a Galina e a Kolya: podiam casar-se imediatamente e em seguida divorciar-se para que Kolya alegasse a condição de único respon- sável ou podiam casar-se e torcer pelo nascimento de gêmeos. Insistimos com Galina para que não aceitasse nenhuma das opções. Aos 18 anos, tinha uma vida inteira pela frente para tomar decisões estúpidas e irreversíveis. Use a cabeça. Livre-se da gravidez e do namorado vagabundo com uma única ida ao médico. No entanto, ignorando nossos conselhos mais que razoáveis, ela ainda amava Kolya. Os dramas da tv aos quais crescemos as- sistindo, histórias de amantes perseguidos por desgraças, histórias em que o amor supera todos os obstáculos, eram todos, obviamente, contos de fadas como os noticiários; no entanto, o óbvio só é óbvio quando acontece com os outros. Todas findamos presas a homens que, se víssemos com ou- tras mulheres, nos fariam sentir pena delas. Depois que Kolya partiu para o front, Galina passou a sentir-se diminuída, tensa, simplesmente inferior. Teríamos avaliado mal a seriedade da relação do casal? Galina tinha o brilho luminoso de um vitral, mas não podíamos imaginar que fosse Kolya a luz do sol que a saturava.
Andamos com ela até a clínica e depois a levamos para casa. Ficamos orgulhosas. Ficamos com pena. Ficamos lá para apoiá-la.
Galina trabalhava como telefonista para a aliança de mineradores e frequentava aulas de informática nas noites de terça. Estava conosco quando vimos o primeiro cartaz para a edição inaugural do concurso de Miss Sibéria colado à madeira do ponto de ônibus. Convocava mulheres dotadas de juventude, beleza e talento para um evento que seria transmitido pela tv a todo o país. Olhamos para Galina. Ela olhou para a própria cintura.
As entrevistas começaram a ser realizadas duas semanas depois no salão da nossa antiga escola. Subimos ao palco uma de cada vez, cobertas de camadas de maquiagem e com as pernas nuas. O diretor de elenco nos ron- dava, dando-nos tapinhas nas coxas, apertando nossos quadris, testando a firmeza deles como uma babushka diante do balcão de beterrabas. A maioria de nós foi dispensada ao fim da primeira análise. Mas não Galina. Quando o diretor de elenco a viu em sua minissaia feita de xale, deu um suspiro de alívio. Descreveu vários giros à volta dela, roçando a barra da saia sem en- costar em sua pele.
— Qual é o seu talento? —
— O balé — respondeu Ele assentiu.
— Traga as suas sapatilhas de ponta para Novosibirsk.
Galina logo começou a aparecer por toda parte. Seu nome saiu no jornal por 57 dias consecutivos. Além de nossa representante em Novosibirsk, ela era também uma das três concorrentes selecionadas para aparecer nos anúncios do concurso de Miss Sibéria, e víamos seu rosto com mais frequência que o dos nossos pais e namorados, mais até do que o nosso próprio rosto no espelho; Galina era a nossa bandeira.
Ela podia ainda estar apaixonada por Kolya, mas isso não a impedia de embarcar toda noite de sábado num reluzente Mercedes prateado. “Ela se deu bem”, diziam as nossas mães, e embora nunca víssemos os dois em público, achávamos a mesma coisa. Aos 35 anos, Oleg Voronov era jovem para ser o décimo quarto homem mais rico da Rússia. Quando a aliança do níquel foi privatizada, ele adquiriu uma participação majoritária com fundos obtidos junto a investidores estrangeiros, autoridades corruptas e gângsteres. O leilão durou ao todo quatro segundos e meio. Ele pagou 250.100.000 dólares, apenas cem mil acima do lance mínimo. Como uma indústria estatal que fatura vários bilhões de dólares ao ano pode ser vendida por 250 milhões? Sua propriedade foi convertida em ações e distribuída entre os funcionários da aliança. Esses papéis, todavia, só podiam ser vendidos pelo valor total em Moscou, e pessoalmente. Nossos pais não tiveram outra escolha senão vendê-las nos quiosques da Leninsky Prospekt, onde homens de Voronov recompravam as ações por uma fração do seu valor em bolsa. Bastava para cobrir as despesas hospitalares para o tratamento das doenças respiratórias crônicas. Pouco depois dos primeiros rumores sobre o Mercedes prateado deVoronov à espera diante do edifício onde morava Galina, os anúncios do concurso de Miss Sibéria começaram a aparecer nas vitrines dos mesmos quiosques que compravam as ações da empresa.
Como fazíamos parte do cenário da vida de Galina, um pouco da luz dos holofotes também chegou até nós. Um salão recém-aberto nos ofereceu manicures de graça, esperando que a presença das antigas colegas de Galina lhe desse uma aura de sucesso e sofisticação. Ex-namorados passaram a li- gar pedindo desculpas. Nossas mães começaram a tentar entreouvir nossas conversas. Espero que não soe mesquinho dizer que aproveitamos bastante enquanto durou.
Ninguém trabalhou na noite do concurso de beleza. Nos agrupamos em torno da tv para ver Galina subir ao palco com outras jovens de cidades siberianas mais conhecidas por suas instalações militares fechadas e minas de urânio do que por sua beleza. Era meados de setembro, e o gelo já co- meçava a se formar na parte externa das vidraças. Champanhe doce esfriava nas geladeiras, a vodca esquentava em nossos copos; bebemos e mandamos as demais calarem a boca quando a orquestra começou a tocar “A canção do patriota”. Acompanhamos a melodia de boca fechada, mas não cantamos. Nosso país tinha três anos e a letra do hino nacional ainda não fora composta. O apresentador dirigiu-se à frente do palco e deu as boas-vindas à plateia do primeiro concurso anual de Miss Sibéria. Seu otimismo de bochechas rosadas sugeria que nunca tinha passado muito tempo na região. Ele apresentou todas as concorrentes, mas só víamos Galina.
O programa foi interrompido para os comerciais e, quando voltou, as concorrentes estavam de maiô e salto alto; a minoria dentre nós que encarávamos o evento como uma simples exibição de indecência glorificada lembrou que só em filmes pornôs os maiôs eram usados com salto agulha. Vaiamos as demais concorrentes, torcendo para que tropeçassem, quebras- sem o salto, entrassem em combustão espontânea, e desejando-lhes crises nervosas, colapsos emocionais, esquartejamento, uma decapitação ou as pragas do Velho Testamento, e essa erupção de crueldade mal disfarçada nos parecia adequada, até mesmo apropriada por ser compartilhada por todas. Quando as concorrentes de maiô atravessavam o palco sem tropeçar ou quebrar o salto, concluíamos que deviam ter muita prática como atrizes pornô. Só em Galina aqueles trajes assentavam graciosos como um vestido de baile. Na parte da entrevista, zombamos da eloquência ensaiada das outras concorrentes e ficamos em silêncio quando Galina se aproximou do microfone. O locutor a apresentou e consultou uma pilha de fichas verdes com um olhar demorado que valorizou o suspense do momento e também deu a impressão de que ele era pouco letrado.
— O que o concurso de Miss Sibéria significa para você? — perguntou ele.
Com um sorriso recatado, Galina virou-se para a câmera mais próxima.
— É muito importante representar minha cidade num acontecimento nacional. Agrada-me que este concurso esteja chamando atenção para a ri- queza da tradição cultural da Sibéria. Por muitos séculos, a Rússia europeia usou a Sibéria como prisão para seus criminosos e Mas não somos criminosos, nem prisioneiros. Somos cidadãos de um novo país, e logo o mundo há de reconhecer que os siberianos não se limitam a extrair da terra o combustível para a Federação Russa; nós somos o combustível da Federa- ção Russa.
O apresentador exibiu uma dessas expressões faciais que manifestam tan- to aprovação quanto surpresa.
— E o que você irá fazer se for escolhida Miss Sibéria?
— Vou ficar famosa, é claro — disse Galina, e piscou para a câmera. Durante a pausa de dois segundos antes que o público aplaudisse e a orquestra entoasse uma fanfarra, Galina nem precisou de tiara. Já tinha coroado a si mesma com aquela piscadela.
Na parte do concurso de talentos, uma espiga de milho sem vida de Vla- divostok tocou Rachmaninoff numa balalaica. Unhas, seios, cílios e apliques, todos postiços, transformaram-se por alquimia numa mulher de verdade, de Barnaul, que vendou os próprios olhos e em seguida resolveu um cubo de Rubik. Quem seriam aqueles mulherões geniais? Os juízes estavam tão sur- presos quanto nós. Quando anunciaram que Galina dançaria o solo de Odette em O lago dos cisnes, fizemos silêncio. O que ela estaria tentando provar ao escolher o solo do primeiro balé que sua avó havia apresentado na cantina, sessenta anos antes? Por que Galina, nosso ícone da nova Rússia, tinha de dançar uma cena do balé mais apresentado da urss? Flashes espocaram. O tule branco pairava em torno de sua cintura. Sua cabeça repousava entre os braços levantados, e erguendo-se nas pontas dos pés, capturada por um refletor, ela começou.
Os violoncelos gorjeavam. Galina ficou parada en pointe, a cintura rodeada pelo tutu branco. Ergueu a perna esquerda e traçou uma parábola no ar com a sapatilha. Seu pé pousou no palco no momento exato em que entravam os violinos e, ah, como desejamos que nossas avós estivessem vivas para ver. Pelos dois minutos e meio que ela dançou, a cidade inteira não produziu um som sequer. A mil e setecentos quilômetros do auditório, nunca nos sentimos tão próximas da nossa amiga. Os espectadores de Moscou, Petersburgo e Volgogrado viam apenas aquela mulher batendo os braços no palco, mas nós a vimos em suas primeiras apresentações de balé, sua professora suspirando em desalento.Vimos seu queixo cair quando lhe contamos a história da sua avó.Vimos quando alçou voo depois de tropeçar no cadarço do sapato na aula de aritmética do terceiro ano. Mas não há cadarço algum a culpar pela queda que Galina sofreu nos quinze segundos finais do seu número. Ela só pode ser atribuída a uma série de formidáveis grands jetés, ao piso encerado do palco, ao excesso de ambição e à escassez de talento. Ela saltou apoiando-se na base do pé direito, mas pousou na lateral do pé esquerdo. Os microfones não captaram a fratura do seu ma- léolo medial acima do som da orquestra. Ouvimos apenas a exclamação do apresentador, o grito curto de Galina ao cair no chão e a melodia obstinada de um violista que continuou tocando até o fim da página da partitura, bem depois de seus colegas terem parado. Quando Galina conseguiu sentar-se ereta, seu rosto estava vermelho. O tutu se espalhava à sua volta no palco, preenchendo cada centímetro da luz do refletor, e ela olhava para a câmera com um gemido lancinante de derrota tão familiar, tão íntimo, que pude- mos senti-lo em nossa própria garganta.
Galina foi atendida pelo médico enquanto as demais concorrentes demonstravam seu talento com canções, acrobacias e truques de mágica. E nós também desabamos, derrotadas demais para honrarmos Galina e ridicularizarmos suas rivais. Ela foi trazida de volta ao palco numa cadeira de rodas para a cerimônia de coroação, com o tornozelo envolto em gelo. Não poderíamos deixar de vê-la não vencer. Já tínhamos ido longe demais. Aquela noite nos daria assunto para anos e anos. Já tínhamos começado a criticar sua preparação, sua arrogância, seu orgulho exagerado e sem propósito por não nos consultar quando lhe teríamos avisado que aquela ideia estava destinada ao fracasso. O apresentador recebeu um envelope dos jurados e o abriu em cena. Franziu a testa. Não era uma de suas pausas a serviço do suspense; lia e relia o nome com genuína incredulidade. Embora viéssemos a saber mais tarde que o oligarca era um dos principais patrocinadores do concurso, e que o nome da vencedora havia sido escrito e selado no envelope três dias antes do concurso, isso não dilui a memória da alegria que tomou conta de nós quando o apresentador sorriu para a câmera e disse: “Tenho o grande prazer de anunciar que a coroa de Miss Sibéria vai para ninguém mais que Galina Ivanova.” Batemos palmas e gritamos. Sapateamos no assoalho e dan- çamos nos corredores. Sabíamos que Galina venceria. Não duvidamos nem por um segundo. O clarão dos flashes se refletia nos olhos molhados de Galina. Ela não tinha como subir ao pódio, de modo que assistentes de palco a ergueram para que o apresentador pudesse acomodar a tiara dourada em sua cabeça. Dali a um mês, o folheado a ouro começaria a descascar, revelando a liga de níquel da qual era feita.
A fama veio em seguida. Galina foi chamada para papéis no cinema e para participar de programas de televisão, e por vários anos a víamos apenas nas telas de cinema e nas fotos granuladas dos tabloides. Kolya voltou da Chechênia e encontrou uma cidade onde o único emprego possível era o de capanga, e logo esquecemos que houvera um tempo em que Galina não era a mulher do oligarca. Ela vivia entre Petersburgo e Moscou, nas coberturas que Voronov mantinha em hotéis de luxo. Mesmo em suas especulações mais provocantes, os jornais sempre mostravam respeito ao oligarca. Uma ou duas gerações atrás, homens como ele mandavam jornalistas incômodos para os campos de trabalhos forçados na Sibéria. Hoje, simplesmente mandam matá-los.
Tivemos pouco tempo para comemorar. Nossos pais morreram de uma doença pulmonar e foram substituídos por nossos maridos e irmãos. Eles voltavam das minas reluzentes como os nossos pais, mas calados, desprovidos de alegria, sentindo-se vazios com suas dúvidas existenciais. E, mal tendo estreado este novo trabalho, começavam a perder o emprego. Os benefícios que a aliança antes destinava a seus empregados tivera o mesmo destino da foice e do martelo. Não havia mais sanatórios, nem leitos de hospital. Os rublos recebidos pelas ações da aliança já haviam sido gastos muito antes, e não tínhamos mais qualquer direito legal às minas que nossos avós morreram escavando. E esse tapa forte da descoberta doeu quando compreendemos que nossas mães tinham razão: adolescentes querem liberdade; adultos, segurança. Nosso país tinha sido poderoso. O mundo nos havia temido. Um Estado paternalista cuidava de nós. E agora, o que nos restava? Vícios e epidemias. Na adolescência, nós nos opúnhamos à força do Estado, mas essa mesma força nos havia levado ao topo do mundo.
Ainda assim, havia alguma alegria. Tivemos filhos. Chegavam ao mundo gritando, pálidos e pegajosos de placenta. Chegavam tossindo e cuspindo, e nós os recebíamos nos braços e os ensinávamos a rir.Aplaudíamos os primeiros aniversários e os primeiros passos. Nossos filhos mudaram para sempre nossa relação com nossas mães. A compaixão substituiu o leve desdém com que antes olhávamos para elas, e passamos a amá-las como nunca, como só podemos amar a nós mesmas, porque, contrariando nossas melhores intenções, nos transformamos nelas.
Quando o primeiro filme de Galina chegou ao nosso cinema, fomos com nossos filhos e suas avós. Galina parecia ainda mais incrível quando ampliada à altura de dois andares. Fazia o papel de uma heroína envolvida em uma teia de mistério e intriga. Era tomada como refém pela cia, mas conseguia fugir. Usava sua agilidade física e mental a seu favor. Agia com uma sagacidade fria e, mesmo em momentos de grande perigo, conseguia produzir comentários curtos e fulminantes. Os críticos ridicularizaram Teia de mentiras, classificando-o como inverossímil, mas para nós não fazia diferença. Nossa ex-colega de turma, nossa melhor amiga, era a estrela de um longa-metragem, e lá estávamos nós, assistindo.
* * *
Passamos anos sem notícias de Galina. Depois que ela teve uma filha, desapareceu das vistas do público, substituída por vencedoras mais recentes do Miss Sibéria e estrelas de cinema mais jovens. Seus filmes transitaram dos cinemas para a televisão e depois desapareceram por completo de qualquer transmissão. Paramos de falar sobre ela.Tínhamos nossa própria vida com a qual nos preocupar.
As dispensas começaram pouco depois do fim da primeira guerra na Chechênia. Máquinas automatizadas garimpavam o níquel com muito mais eficácia que nossos maridos. As pensões eram tragadas pelas flutuações nas bolsas estrangeiras. Mesmo quem manteve o emprego enfrentava dificuldades. Com o rublo colapsando, o pagamento de salários e pensões atrasava por meses a fio e ninguém tinha como pagar os produtos estrangeiros que substituíram as até então familiares marcas soviéticas. Pensamos em nos mu- dar para um clima mais ameno, mas não tínhamos como arcar com os custos da relocação. Além disso, nossos filhos formavam a quarta geração que tinha o Ártico como lar. O que significava alguma coisa, mesmo que não soubéssemos bem o quê.
Em meio aos infortúnios do final dos anos 1990, há um que se destaca. É a história de Lydia, que tinha sido uma de nós até se mudar para Los Angeles e casar-se com o afinador de piano que conhecera pela internet. O casamento terminou — todas tínhamos previsto isso —, e Lydia voltou a Kirovsk para morar com a mãe,Vera Andreiévna. Lembram-se de Vera, que quando criança denunciara a própria mãe para a nkvd? Tinha levado uma vida boa durante os anos soviéticos, mas sua fortuna acompanhou o declínio da bandeira vermelha. Na época do regresso de Lydia,Vera estava envolvida com os mesmos traficantes de drogas que haviam empregado Kolya depois da guerra. Lydia ficou chocada e horrorizada ao descobrir que a casa da sua infância tinha sido transformada num covil de criminosos. E foi natural que desabafasse sobre sua raiva e decepção conosco, suas amigas mais próximas. Fez-nos jurar segredo, mas como podia esperar que não compartilhássemos uma história como aquela? Dali a uma semana, a notícia chegou ao chefão criminoso da cidade, que proferiu uma sentença de execução. Mas a culpa, como o níquel, é um recurso finito que se divide e compartilha de muitas maneiras, cabendo a maior parcela a Kolya e aos capangas que apertaram o gatilho, a segunda ao chefão do crime que proferiu o veredicto, a seguinte a Vera, que se metera em transações com esses gângsteres, a próxima ao chefe do departamento de polícia que conspirava com os gângsteres e finalmen- te à própria Lydia, que jamais devia ter-nos contado uma história tão boa. Aparecemos mais abaixo na lista, admitindo apenas uma pequena parcela da culpa, e mesmo esse mero fragmento ainda se divide em seis partes, de maneira que nenhuma de nós seis jamais se sentiu pessoalmente responsável por espalhar o boato que levou ao assassinato de Lydia, que antes era a sétima de nós.
Quando o homem da kgb ganhou as eleições para a presidência em 2000, nós festejamos.
Nossos filhos receberam novos livros de História na escola e nós os ajudávamos com os deveres de casa. Ali eles aprenderam quem foi Pedro, o Grande, cuja cidade magnífica às margens do Neva custara a vida de cem mil servos, embora o mundo inteiro concorde que São Petersburgo é uma das maravilhas da humanidade. Aprenderam quem foram os tsares, o alcance do poder imperial, a insatisfação dos trabalhadores e a Revolução de Outubro. Líamos com eles sobre a história de Stálin, surpresas ao ver que o novo livro de História o apresentava sob uma luz mais generosa que os nossos. Segundo o texto, Stálin foi um administrador capaz com uma atuação totalmente racional e o líder soviético mais bem-sucedido de todos os tempos. Os campos de trabalhos forçados no Ártico eram parte vital de seu impulso para engrandecer a nação. Pensamos em nossas avós.Talvez o sofrimento delas tivesse sido necessário, um mal justificado por um bem maior. Sacrificaram-se por nós, no fim das contas. Quando nossos filhos leem em voz alta que o colapso da União Soviética foi a maior calamidade geopolítica do século XX, nós assentimos e lhes dizemos: “É verdade.”
Uma nova guerra começou na Chechênia — ou talvez tenha sido a re- tomada de uma mesma guerra com séculos de duração, mas deixemos isso por conta dos autores de livros de História — e a história de Galina teve uma reviravolta, embora só tenhamos tomado conhecimento disso bem mais tarde, depois que ela voltou a ser uma de nós. Quando o uso de forças anti-insurgentes substituiu as grandes operações de combate, e a república deu seus primeiros sinais de revitalização, Galina acompanhou o oligarca numa viagem de negócios a Grózni. Voronov tinha construído sua fortuna com base na mineração, mas era apenas o décimo quarto homem mais rico da Rússia, ansioso para incluir o petróleo em suas atividades. Os campos de petróleo da Chechênia, inexplorados durante o conflito de décadas, constituíam um ponto de partida ideal. Enquanto Voronov se reunia com vários ministérios, Galina tentava obter notícias de Kolya. Ele tornara a ir à guerra, então como soldado contratado, depois do horrendo episódio com Lydia. Anos se passaram desde que os dois tinham se encontrado pela última vez. Quando Kolya completou seu serviço militar de dois anos, camadas impene- tráveis de assessores de imprensa, assistentes e agentes formavam em torno de Galina um verdadeiro escudo à prova de homens como ele. Ela se per- guntava se ele teria tentado entrar em contato, se os seus silêncios o teriam empurrado para o caminho que culminara no assassinato de Lydia.
À esposa de um oligarca, as autoridades militares ficavam mais do que felizes em entregar fichas médicas e de serviço, porque no coração de uma burocracia militar famosa por sua incompetência vive uma eficaz classe de subalternos destinada apenas a servir os oligarcas, os políticos e os facínoras ricos e poderosos demais para conhecer pelo nome qualquer um dos solda- dos que combatem em suas guerras. No espaço de uma tarde, um pequeno burocrata fã de Teia de mentiras entregou a Galina a ficha de Kolya, a qual o enquadrava numa taxonomia que crescia em detalhes, começando numa brigada e terminando com o tipo sanguíneo.
— A boa notícia é que a companhia dele está estacionada a cinco quilô- metros daqui — revelou o pequeno — A má notícia é que ele foi dado como morto em ação.
Galina assentiu solenemente.
— Não fique triste assim! — prosseguiu o pequeno — É nor- mal declararmos soldados perfeitamente saudáveis como mortos em ação. Afinal, não precisamos pagar o soldo de vivo a um homem morto. Morto em ação é mais uma condição administrativa do que propriamente existen- cial. Na verdade, tivemos um paciente do pelotão de Kolya que foi dado como morto em ação ao mesmo tempo que ele.
O nome do paciente era Danilo.Tinha sido encontrado alguns meses antes nas montanhas perto de Benoi, continuou a contar o pequeno burocrata depois de mais um tempo analisando o arquivo em mãos. Estava desaparecido havia meses e teria sido submetido a uma corte marcial por deserção se já não houvesse sido dado como morto. Quando finalmente chegou ao hospital, seu pé ferido tinha gangrenado e precisaram amputá-lo, a especialidade da equipe residente de cirurgiões. Danilo perdera boa parte do pouco juízo que um dia tivera, mas, pelo que a polícia do Exército pôde apurar, ele havia sido mantido pelos insurgentes no fundo de um poço.
O pequeno burocrata tirou uma foto de uma pasta. A fotografia tinha sido dobrada tantas e tantas vezes que sua imagem parecia ter sido impressa em papel quadriculado. Entregou a foto a Galina e ela viu uma mulher num biquíni de estampa de leopardo de pé entre dois meninos usando partes de baixo de biquíni com a mesma estampa. Ao fundo, a fumaça amarela se desprendia dos Doze Apóstolos. A foto tinha sido tirada vários anos antes de Galina conhecer Kolya, que ela reconheceu como o mais alto dos dois rapazes.
— O episódio tem mais uma peculiaridade, que uma artista como a se- nhora pode achar intrigante — continuou o pequeno burocrata, com casual indiferença à dor que se desenhava no rosto de — A campina nas montanhas onde os dois soldados ficaram presos é bem conhecida, pelo me- nos localmente, porque é a paisagem retratada numa pintura que passou muitos anos em exposição no Museu de Arte Regional de Grózni.
Galina ainda não parara de contemplar a fotografia. Ainda olhava para Kolya como se o observasse através do tempo, o que, é claro, é a única maneira de se olhar para uma fotografia. Fizemos a mesma coisa com fotografias dos nossos namorados da adolescência mortos na Chechênia ou aqui mesmo, por minas terrestres ou tiros, por overdose ou intoxicação alcoólica, em acidentes nas minas ou vítimas de motoristas alucinados, de tuberculose ou HIV. Galina deve ter sentido a dor que conhecemos bem, uma dor vivida com tamanha frequência que se tornou uma das marcas da nossa geração, aquela que começa no momento em que você descobre que seu namorado da adolescência sofreu uma morte precoce, violenta e sem sentido. Essas mortes nos envelheceram, como se os anos que deixaram de viver se somassem aos que nós vivemos e nos víssemos obrigadas a suportar tanto as decepções da vida que levamos quanto as da que não levamos, a tal ponto que, mesmo quando estamos sozinhas, escovando os dentes no silêncio do nosso banheiro, acordadas à noite em nossa cama vazia, mesmo quando nossos pequenos já adormeceram, quando nossas amigas estão escovando os dentes no silêncio do banheiro delas, acordadas à noite em sua cama vazia, mesmo quando a porta está fechada e ninguém pode nos ver ou ouvir, nunca estamos a sós, ainda pensamos no plural.
Galina perguntou se Kolya de fato morrera em ação. O pequeno burocrata esquadrinhou o restante do conteúdo de sua pasta.
— Tecnicamente, não. O mais provável é que tenha sido morto em ca- Mas está morto, de qualquer maneira.
O burocrata transmitiu a notícia com o mesmo tom que usava para desejar bom-dia a um ordenança.
— Não recuperamos o corpo, mas em situações como essa, de tomada de reféns, quando um soldado consegue escapar, o outro, .. Geralmente o outro não consegue. E Danilo conta que Kolya morreu naquela encosta minada.
— Quero ver o lugar onde ele morreu — disse.
O pequeno burocrata explicou, em considerável detalhamento, seu desconforto em não poder atender a um pedido da esposa de um oligarca, e nada menos que a estrela de Teia de mentiras, mas que aquela região monta- nhosa ainda se encontrava numa zona de combate, embora fosse tratada pelo eufemismo de zona de operações de contraterrorismo.
— E o quadro que o senhor mencionou? O que mostra o lugar onde Kolya morreu? — perguntou Galina mais adiante na mesma — Que- ro ver o quadro.
Três dias depois, Galina se encontrou com o ex-vice-diretor do Museu de Arte Regional. O museu tinha sido destruído vários anos antes e o vice-diretor tinha iniciado uma nova carreira, a de guia turístico.
Contaram-nos que Galina nunca mais foi a mesma depois de voltar da Chechênia. Comia pouco. Vivia melancólica. Mesmo quando levava a filha para passear à tarde no parque, voltava pálida e cansada para a cobertura. O que tinha visto na Chechênia a havia mudado — e não sabemos ao certo o que ela viu, a história que conhecemos é toda feita de rumores e boatos, que quando envolvem uma figura como Galina logo se transformam em mito.
Em suma, ela foi suficientemente estúpida de se tornar uma dissidente. Se tivesse estudado bem a situação da Chechênia, teria visto que o presidente, que sempre acerta tudo, estava correto em sua postura. Mas não dê muito valor ao que ela fez: Galina quis apenas criar distância suficiente para poder gozar dos luxos da classe dominante sem sentir-se cúmplice moral de suas ações. Apenas rumores, é claro. Galina não protestava em voz alta. Ainda assim, qualquer pessoa que tenha visto um dos filmes dela sabe que um único sussurro pode ser altamente perturbador quando toda a plateia está em silêncio.
Ninguém dava muita atenção a seus comentários dissonantes em jantares e vernissages. Mas quando ouvimos Galina falando num programa de rádio para o qual tinha telefonado, suas primeiras palavras resfolegantes deixaram claro que não tinha planejado muito bem o que pretendia dizer. Qual pode ter sido sua motivação? Como podia ser tão ingrata com um governo que lhe dera tanto? Ela não tinha esse direito! Galina tinha tudo! Mais adiante, ficamos sabendo que a estação de rádio era subsidiária de uma holding de comunicação, que por sua vez era subsidiária de um conglomerado cujo acionista principal era ninguém menos que o agora décimo terceiro homem mais rico da Rússia, nosso querido oligarca. Será que ela sabia disso quando decidiu zombar do amor que o primeiro-ministro cultivava por esportes, referindo-se a ele como um bárbaro sem camisa? É pouco provável. Afinal, recém-intitulado décimo terceiro homem mais rico da Rússia, o oligarca detinha participações em praticamente tudo. Para um homem como ele, cuja fortuna e cuja liberdade dependiam de boas relações com o Kremlin, alianças políticas sempre teriam precedência sobre alianças românticas.
Nas semanas que se seguiram, os filmes de Galina desapareceram dos quiosques de dvd e, sem alarde, mas a título oficial, ela foi despojada de seu título de Miss Sibéria. O aerógrafo não a apagou das fotografias como fizera com sua avó; foi apenas removida do material de divulgação do concurso Miss Sibéria com o uso de Photoshop. E nem pusemos a culpa no oligarca. O caso Khodorkóvski ainda ocupava as primeiras páginas. Galina perdeu os apartamentos em Petersburgo e Moscou, os sedãs pretos com motorista, as pérolas e as peles.Tudo que era seu mas que não constava em escritura, não possuía certificado de posse ou um recibo foi-lhe tirado. O oligarca, que não dava muita importância a crianças, especialmente seus próprios filhos, fez uma única e surpreendente concessão, dando a filha para Galina criar em Kirovsk.
Hoje em dia vemos Galina o tempo todo. Não nos cartazes ou nas telas de cinema, mas no mercado, andando pela rua, esperando no ponto do ônibus. O rosto dela é do mesmo tamanho do nosso. Ainda é mais bonita, é bem verdade, mas já faz muito tempo que superamos essa inveja. No geral, estamos felizes. O preço cada vez mais alto do petróleo e do gás natural estabilizou o rublo. Os lucros da aliança mineradora crescem em correlação à economia chinesa. Noventa e cinco por cento dos conversores catalíticos do mundo são feitos com o paládio de Kirovsk, e nossa cidade continua a prosperar sob camadas cada vez mais densas de poluição graças ao empenho dos ambientalistas americanos e europeus em manter limpos os céus acima deles. De tempos em tempos ouvimos histórias que não diferem muito da de Galina e sua avó; pessoas que falam alto demais tendem a ser abruptamente acusadas de corrupção e condenadas a cumprir sentença nas prisões siberianas. Suas vidas são sacrifícios menores.
Olhe do outro lado da rua. É a filha de Galina no parquinho, brincando com as nossas meninas, rindo e gritando enquanto desliza escorregador abaixo. Uma menina linda, não há como negar. Geralmente Galina divide este banco conosco, enquanto relembramos velhas histórias, desabafamos sobre nossas frustrações e compartilhamos nossas alegrias. Falamos principalmente dos nossos filhos. Sobre como nos deixam furiosas; como nos causam dor; como o nosso medo de falhar com eles nos tira o sono. Ninguém gosta de quem fica se gabando, e louvar os próprios filhos equivale a amaldiçoá-los com azar, mas admitimos, ainda que só em segredo, ainda que só para nós mesmas: sentimos orgulho, muito orgulho deles. Demos-lhes tudo o que pudemos, mas nossa maior dádiva foi transmitir-lhes nossa própria marca de pessoas comuns. Eles podem reclamar de nós, podem achar que devíamos ser mais ambiciosas e menos bitoladas, mas algum dia vão perceber que só permanecem vivos graças ao que os torna comuns. Daqui a alguns anos, terão se casado e começarão a ter seus próprios filhos. Gostaríamos de saber que histórias nossos netos contarão sobre nós, e se suas histórias terão alguma semelhança com as nossas.
*
O conto acima integra o livro Trilha sonora para o fim dos tempos (Intrínseca, 304 págs.), de Anthony Marra. O livro expõe as angustias da juventude russa e foi finalista em 2015 do National Book Critics Award.