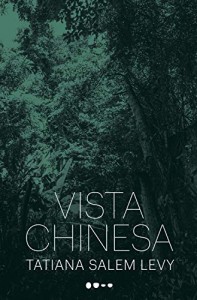A ntonia e Martim, meus amores,
Enquanto vocês assistem a um desenho animado, eu me pergunto como começar esta carta. Escrevo, apago, escrevo de novo, me distraio olhando pra vocês. Tanta coisa boa me vem à cabeça que hesito em remexer no passado. O pai de vocês, se soubesse que tomei a decisão de contar o que aconteceu comigo, diria, esquece. No princípio, acreditei que fosse possível. Mais do que ele, mais do que todos, encarei o esquecimento como a única forma de seguir adiante. Eu passava horas inventando estratégias para apagar a realidade dos fatos, como se eu pudesse voltar a ser a mesma Júlia de antes. Mas há coisas que, mesmo depois de terem acontecido, continuam acontecendo. Elas não te deixam esquecer porque se repetem todos os dias. É por isso que não tiro da cabeça que vocês sabem. Vocês habitaram a minha barriga, mamaram nos meus peitos, tomam banho comigo, dormem no meu colo, a gente se enrosca no sofá, então vocês sabem, como eu sei toda vez que me olho no espelho. Só não conhecem as palavras.
Ontem, me revirei insone na cama, pensando: e se eu morrer sem falar pra eles? Primeiro, achei que seria melhor assim. Depois, me convenci de que, se isso acontecer, vai chegar o dia em que vocês vão ouvir algum rumor, vão descobrir uma ponta da história, talvez outra e mais outra — mas vai sempre faltar um pedaço. Vai faltar a verdade, porque assim, como vou contar agora, eu nunca contei a ninguém.
Posso imaginar o espanto de vocês se um dia lerem esta carta. Não vai ser fácil ver a própria mãe estilhaçada. Antes de mais nada, quero que entendam uma coisa que eu mesma demorei para aceitar: se em algum momento parecer que enlouqueci, saibam que ninguém é verdadeiro na lucidez. Ninguém. Nem mesmo a mãe de vocês.
Era uma terça-feira. O ano, 2014. O Brasil, país do futuro, parecia bastante próximo de realizar seu destino. Em menos de um mês, sediaria a Copa do Mundo e, dois anos depois, o Rio de Janeiro se tornaria a capital olímpica. Nada apontava para um desastre, nem na cidade, capa de todos os jornais e revistas, nem na minha vida. Não tinha como dar errado, até porque os destinos se fundiam. Meu escritório — naquela época, apenas Cadu e eu — tinha vencido o concurso para projetar a sede do campo de golfe, que, depois de cento e doze anos, voltava às Olimpíadas. Lembro o dia da semana porque havia deixado um papel em cima da escrivaninha: terça-feira, reunião com a prefeitura. Mais precisamente, nossa primeira reunião com a Secretaria do Meio Ambiente, o dono do terreno na Barra da Tijuca e o projetista internacional do campo de golfe, todos juntos.
Severino, o porteiro do prédio, ainda não tinha voltado do almoço e, como de hábito, escondi a chave num vaso de planta ao lado da escada. Nunca levo nada comigo quando saio para correr, só o celular preso na calça e os headphones nos ouvidos. Até aí, consigo me lembrar de tudo, da porta do prédio batendo, eu olhando para o lado para conferir se vinha algum carro, atravessando a rua, virando à direita, depois à esquerda, passando pela padaria do Horto e pela banca de jornal, mas, a partir do instante em que começo a percorrer o trajeto de subida até a Vista Chinesa, os detalhes se tornam menos precisos.
Não sei dizer se havia outras pessoas, se havia mais pássaros do que o normal, se macacos cruzaram o caminho, ou se o sol, que reluzia forte, em algum momento desapareceu atrás de uma nuvem. Quando estou correndo, eu me desligo do mundo. Nem a floresta que ladeia a pista, nem eventuais passantes, nem mesmo o visual lá de cima, assombroso, me chamam a atenção. Só volto à realidade quando a voz metálica do telefone interrompe a música para me anunciar a velocidade média e a quilometragem percorrida.
Se a cabeça vai longe, o corpo, pelo contrário, está sempre presente. Os músculos da perna se contraem, a dor chega, lancinante, e fico no limite de desistir. Mas isso nunca aconteceu. Por mais penoso que seja, sou incapaz de dizer a mim mesma, hoje, estou cansada. Hoje, meu corpo não aguenta. Eu o obrigo a aguentar.
Mas, com a dor, chega também o prazer, a endorfina se espalha, o sangue circula com pressa, e tenho a sensação de que estou cumprindo a minha meta.
Duas vezes por semana, eu repetia o ritual. A única diferença aqui era o horário: eu nunca corria à tarde. De manhã tem mais gente, e eu detestava ouvir meus pais ou o Michel dizendo que eu não devia correr na Vista Chinesa, é deserta, o Rio de Janeiro, mesmo agora, mesmo sendo a cidade mais falada do mundo, nunca deixou de ser perigoso. Mas até aquela terça-feira o perigo era para mim uma abstração.
Sem que eu tivesse intuído nada, previsto nada, sem que eu tivesse pensado, está vazio, ou avistado alguém estranho ao longe, sentido algum rastro de medo, um arrepio, uma sensação ruim, sem que eu tivesse recebido algum sinal do mundo externo, o perigo apareceu de repente nas minhas costas. Ele era baixo, forte, encostou uma pistola na minha cabeça e ordenou, me segue, a voz se fundindo à da Daniela Mercury, a mão me apertando o braço, interrompendo a corrida e me arrastando para a floresta, aquela mata linda, exuberante, cantada nos mais belos poemas, exaltada nos guias turísticos e na escolha do Rio de Janeiro como sede das Olimpíadas 2016, aquela mata que todo mundo diz que é o que faz a diferença, afinal muitas capitais têm praia, mas uma mata assim, tropical, verdejante, imensa, só no Rio, aquela mata frondosa, casa de tucanos, cobras e macacos, aquela mata que exala um cheiro doce e enjoativo de jaca, aquela mata que todo mundo admira quando está subindo a Vista Chinesa e na qual quase nunca reparo, porque quando estou correndo eu me desligo do mundo, aquela mata virou o meu inferno.
*
Vista chinesa, de Tatiana Salem Levy (Todavia, 112 págs.)