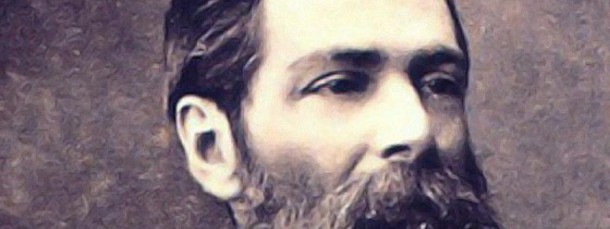
* Por Nilma Lacerda *
A noroeste da cidade do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu integra a Baixada Fluminense, região por muito tempo conhecida por suas múltiplas carências. Densamente habitada, a cidade modificou sua tradição rural, a partir da construção da rodovia Presidente Dutra, que liga Rio a São Paulo. Às margens da estrada recém-criada, na década de 1950, um imigrante alemão construiu a sede da Companhia de Canetas Compactor, uma das principais empresas brasileiras de artefatos de escrita.
Nova Iguaçu, 27 de setembro de 1998.
Em Como e porque sou romancista, autobiografia literária de José de Alencar – escritor brasileiro preocupado em legar ao país um imaginário próprio e valoroso – o leitor é levado em viagem aos anos de 1840, à sala do fundo da casa do senador José Martiniano de Alencar, em partilha do serão familiar.
Não havendo visitas de cerimônia, sentava-se minha boa mãe e sua irmã D.Florinda com os amigos que apareciam, ao redor de uma mesa redonda de jacarandá, no centro da qual havia um candeeiro.
Minha mãe e minha tia se ocupavam com trabalhos de costuras, e as amigas para não ficarem ociosas as ajudavam. Dados os primeiros momentos à conversação, passava-se à leitura e era eu chamado ao lugar de honra.
O tal lugar de honra era o cargo de ledor, com que Alencar se desvanecia, entretendo as mulheres com a leitura de histórias românticas, Amanda e Oscar, Saint-Clair das Ilhas, Celestina e outros. Era um momento de magia e emoção: o pequeno auditório ia às lágrimas com alguma facilidade. Alencar, rapazote, lia, as mulheres costuravam. Costuravam, e ouviam. Ouviam as histórias que amavam, e às quais estavam impedidas de dar o próprio ritmo de leitura, marcando as paradas que desejassem, deixando o livro no regaço para devanear, fazer perguntas, voltar a uma passagem especial. Eram provavelmente analfabetas, ou talvez tivessem apenas uns rudimentos de letra, os necessários para assinar a certidão de casamento, conferir as contas do armazém. Essas mulheres, que costuravam a roupa da família, que costuravam a roupa do Império, não tinham o direito de ler as histórias que agradavam a elas. Não tinham, sobretudo, o direito de ler a própria história. Mulheres que não liam, que histórias não liam as mulheres que costuravam na casa do senador Alencar?
Talvez lessem a história de Zulmira, que nasce bem uns cem anos depois delas. Nasce num navio, em águas portuguesas, na volta da viagem que fez a mãe sair do Brasil para ir resolver, no seu Portugal, qualquer questão de família. Nasce filha segunda, já havia um irmão. Vai ficar filha do meio quando nascer, um pouco mais tarde, outro irmão. Com certidão portuguesa, Zulmira não volta mais às águas natais. Seu destino é a terra e as dificuldades de uma família pobre e mestiça, buscando inserção social no Brasil do início do século XX. A mãe – que já fora empregada doméstica antes de casar com Antônio, o mulato vistoso, filho de índia, segundo as lendas familiares – agora cria galinhas para manter os dois filhos varões na escola. Vende ovos para dar letra, instrução àqueles que têm a vara. Águeda vai ser bem sucedida nessa empresa. Junto com Antônio, faz dos filhos doutores. Com os diplomas e os frutos da pequena indústria de artigos de barro, a família consegue a posição que almeja. Uma família pequeno-burguesa com fumos aristocráticos, o sangue tinto de iberos, celtas, romanos e árabes, negros e indígenas brasileiros, residindo em Bonsucesso – o nome tão sugestivo – subúrbio da cidade do Rio. Zulmira, sem letras, não é de jeito nenhum uma nódoa nessa história. Como o capim-de-cheiro perfuma os lençóis na cômoda, ela recende à tradição de mulheres analfabetas. Ademais, tinha os ataques, a epilepsia que assustou a família e fez dela uma moça nervosa. A mesma epilepsia que não impediu Machado de Assis de ser um dos maiores escritores brasileiros.
Zulmira ficou sendo do lar, moça nervosa polindo as unhas. Suas longas tardes, do tempo de moça até a madureza, devem ter se assemelhado ao buxo no jardim, recebendo a tesoura do podador, os recortes versalhes enfeitando o muro de grade desenhadinha. Na madureza, um varão colheu Zulmira da varanda em que ela se colocava, rapariga em meio às paisagens da aldeia materna pintadas nas paredes. Colheu Zulmira, deu-lhe a geladeira que ela exigia para casar, ela deixou que ele lhe fizesse um filho, Antônio como o avô, e seguiram os dois colhendo fel pela vida de casados.
Na sala de fundo da casa de Alencar, senador do Império, as mulheres suspiravam fundo, tristes e resignadas com a história de Zulmira, que ia acontecer tão depois delas – e da mesma forma que com elas. Sabiam que para Zulmira não ia sobrar muita coisa senão o ressentimento, a inveja, a intriga, as hipóteses. […]
Se tivesse um livro nas mãos, Zulmira podia entrar na cena como leitora. Alencar confessa:
Mas não tivesse eu herdado de minha santa mãe a imaginação de que o mundo apenas vê as flores, desbotadas embora, e de que eu somente sinto a chama incessante; que essa leitura de novelas mal teria feito de mim um mecânico literário, desses que escrevem presepes em vez de romances.
Paro de escrever, vou em busca do nome da mãe de Alencar. Queria escrever aqui, por exemplo, Ana legou a seu filho – e não encontro o nome da mãe de Alencar. Um bocado de livros em casa, todos os romances de Alencar, notas biográficas de Alencar contendo data de nascimento e morte, lugares importantes de sua vida, nome e linhas biográficas do pai, que foi um homem do Império, mas essa mulher do Império que forja o escritor que primeiro dá um imaginário forte e glorioso ao Brasil – não encontro o nome dessa mulher na minha biblioteca. Ecos de pesquisas remotas me falam que deve ser Ana o nome dela, e isso não me faz melhor. Não costumo prestar muita atenção em dados biográficos, e também me reconheço culpada de escrevermos nomes de menos no feminino. Fico com Ana, é um bom contraponto para Zulmira. (Confiro mais tarde, Ana Josefina de Alencar.)
A última visita que fiz a Zulmira me trouxe uma terrível compreensão. Ao se despedir de mim, perguntou: “- Você é escritora, não é?”. Rasgava-se o véu da escuridão familiar, acomodado e hipócrita, que fez ignorar dentro da alma de Zulmira a existência de um canto, onde a letra ardia em desejo.
Sou, tia, sou escritora. Uma escritora que foi acontecendo na tarefa de ser leitora, e de fazer leitores por meu país. Uma escritora que não chegou a te dar nenhum livro, pois esperava que ficassem prontas As fatias do mundo para te levar, com uma dedicatória que costurasse nós duas como leitoras: você, leitora de vida onde faltavam linhas, eu, bem mais afortunada, leitora de linhas e de vida. Uma questão de décadas, poucas até, umas três, e uma história com outro desenho. A tua fome não pôde esperar, quando As fatias chegaram você já se havia saciado.
Você se saciou da existência, eu estou aqui, faminta de mim e dos outros. Faminta de você, Zulmira, que se afasta de mim no real, crescendo, transfigurada nas meadas tênues e vibrantes com que construo personagens para dizer da vida, de quanto ela dói, de quanto traz gozo. A vida que temos para viver, e transformar. Se tivesse um livro nas mãos, hipótese com que certamente sonhou – Zulmira podia almejar, como Fátima, a última mulher do Barba Azul – curiosa como todas as outras e que, diferente das outras, conseguiu escrever o final que convinha à própria história – Zulmira podia também almejar visitar o Inferno e depois escrever a morte do Diabo.






