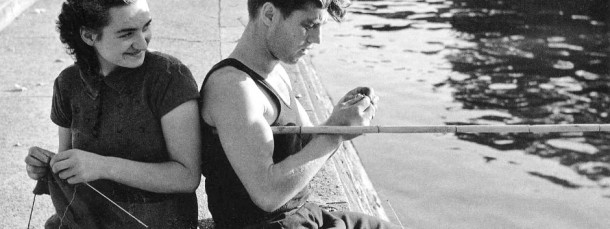
Não têm nome as cores com que ouvimos falar da luz
Nenhuma cor volta a ser a mesma. Imagine
um brilho, uma brancura que não te cegue.
Algo além de um crepúsculo borgiano
que se esvai, como qualquer outro, em um dia de outono.
Meu daltonismo deriva da loucura
de cores imaginárias. Conheço seus nomes
desde que era um menino, mas as cores
seguem-me indagando: será verde o verde;
vermelho o vermelho, azul o azul, amarelo o amarelo?
Qual será a verdadeira cor das coisas?
Felizmente, tu percebes não apenas com os olhos
enquanto a luz em tuas mãos me fala
diluída na tarde única
sob o peso tão tênue de um arco-íris.
O cheiro da névoa é o cheiro do tempo
O mar a traz desde que acordo.
Eis o que não se vê e todos conhecem.
Em seu universo, não é tão difícil pressentir
proximidades de barcos e ou de baleias.
O cheiro da névoa é o cheiro do tempo.
Vai se submergindo em diminutas gotas
o batido oco de cada uma das coisas.
Pouco a pouco alcançou minha cabeça.
E envolto em sua nuvem de ecos
sondo a inexistência íntima:
toco a mesa das horas, a cadeira;
em seguida, a porta vencida dos anos.
E um silêncio de mergulhador sempre
me convence de ser recém-nascido.
Quando a cal da morte entalha todos os nomes da solidão
O que é mais real agora?
A mulher que recostada na areia
lê Marguerite Yourcenar e Bashô ou essa extensão diluída
entre meu coração e o universo?
O paradoxo é terminar vendo
o que nunca esteve onde o colocamos.
Se chamava…
Não sabes quantos outros mais a conheceram
e estendem de um a outro lado
a brevidade inconclusa
de um brilho opaco que se apaga.
Lembramos o que podemos.
O outro, as lágrimas dos espectadores,
o monumento vazio são os ritos
do orgulhoso ofício do inalcançável.
O que te comove não é isso
senão outra coisa, uma íntima hospitalidade
de convidar a olhar – como só ela sabia –
seu terrível segredo.
Receptiva e elementar, a água nunca faz diferença
Em outra manhã, a avó Ros
mostrou-lhe um beija-flor morto. Flutuava
em um balde como uma espuma solta.
“Não há outro pássaro igual”, te disse.
“Emprestaram-lhe para o voo e não querem devolvê-lo”
Havia diluviado durante a noite.
Entre relâmpagos e trovões, as sombras
se avolumaram sobre as paredes.
E arrebentaram os tetos. O mundo
do sonho havia retrocedido.
Toda a água que cai
nunca faz diferença.
Em sua transparente balança
cada um obtém seu autêntico peso.
Final de verão com uma gata entre os braços
Ainda se esparramam pelo pátio
as vozes das janelas altas.
Parece outro idioma sobrevivendo
ao vozerio da festa irrepetível.
Com o diário nas mãos, envelhece
tanta notícia imperiosa
nas espumantes poças d’água da tarde.
A gata baixa dos tetos.
Um elo perdido para uma arqueologia
da culpa e da piedade.
É curioso o que parece permanente:
como se não houvesse mundo antes nem depois.
Que fazer com ela? Sua estranha religião
a convenceu de que é você
quem traz a noite mais cedo
e também esse vento que a persegue.
E como faz para reconhecer-te de longe?
Em sua arte de equilibrista, aparece
em um portal das odiosas portas
e nem Stonehenge nem a Acrópole
poderiam ser-lhe menos familiares.
Os dois aprendem, um muito perto do outro,
a ler toda a antiguidade do frio
nas paredes de uma caverna.
México, julho de 1986
Perdoname, estaban muy ricas,
tan dulces y tan fria.;
William C. William
Este gosto na boca
entre ácido e algo doce de uma ameixa
não foi igual ao de há mais de três mil anos?
Um não sabe como explicar finalmente
o que resta do inchado arredondamento
com que preencheu sua mão
nem esse duro desejo de durar
que resiste na cópia de sua carne podre.
Uma ameixa roxa, quase negra
Não é capaz de conter o universo.
Não poderá fazer com que nada mude.
Esse gosto é uma contínua pausa
em que tropeçam a culpa e o perdão.
*
Osvaldo Picardo é professor de literatura na Universidade Nacional de Mar del Plata, onde nasceu (1955) e reside. Editor da revista La Pecera, foi diretor da Eudem Editora, é poeta, crítico, ensaísta e tradutor. Entre suas obras, destacam-se: Apenas en el mundo (1988), Dejar sin ventanas la verdad (1993), Quis, quid, ubi – Poemas de Quintiliano (1997), Una complicidad que sobrevive (2001), Pasiones de la línea (Poemas de Nicolás de Cusa, 2008), Mar del Plata seguido de Otros Lugares y Viajes (2012) e 21 gramos (2014). Organizou a coletânea Primer mapa de poesia argentina (2000) e traduziu em parceria com F. Scelzo e E. Moore The love poemas, de James Laughin (2001)
*
Tradução de Ronaldo Cagiano






