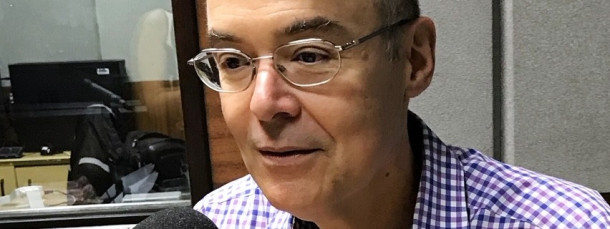
* Por Mário Coutinho *
Hoje vou conversar com o professor Trajano Vieira, doutor em Letras clássicas pela Universidade de São Paulo, fez seus pós-doutoramentos na University of Chicago e na École des Hautes Etudes en Sciences Sociales. Hoje professor de língua literatura grega na Unicamp. Trajano acaba de lançar sua edição da Ilíada pela Editora 34.
Professor, em primeiro lugar eu gostaria de agradecê-lo por aceitar o convite, há tempos quero te entrevistar, é uma honra e um privilégio. Esta semana, enquanto organizava minha biblioteca, peguei um livro (o clássico Deuses, Túmulos e Sábios, O Romance da Arqueologia) que me remeteu a uma entrevista com o historiador e arqueólogo Pedro Paulo Funari seu colega na Unicamp, em que ele descreve suas leituras de formação, as que pavimentaram sua trajetória intelectual, entre elas o supracitado Deuses, Túmulos e Sábios.
Como um icebreaker eu gostaria de te perguntar: quais foram as suas leituras de formação? As leituras mais remotas de que tenho lembrança, ainda na adolescência, foram os romances de Stendhal e Flaubert, autores apreciados por meu pai, advogado de formação e amante de literatura francesa. Por influência dele, matriculei-me na Aliança Francesa aos 14 anos de idade. Aos 17, tive a sorte de ser aluno de Francisco Achcar, de quem me tornaria, anos mais tarde, colega na Unicamp (ele, na área de latim; eu, na de grego). Francisco era eruditíssimo, dominava o português como poucos e oralizava poemas admiravelmente. Sua memória era prodigiosa. Numa manhã de sábado de 1977, ele deu uma aula que mudou meu horizonte literário, sobre poesia concreta. A partir dessa ocasião, meu repertório ampliou-se bastante, graças à leitura da obra de Ezra Pound, de Augusto e Haroldo de Campos e Décio Pignatari. Poesia russa moderna causou tamanho impacto em mim que ingressei no curso de russo na USP, antes do grego, tendo me formado nas duas áreas.
Ainda em sobre esse processo formativo, e ainda que eu conheça a história, eu gostaria que você contasse para os leitores um pouco a respeito do seu relacionamento com Haroldo de Campos. Conheci o Haroldo numa aula de graduação de João Alexandre Barbosa, que o convidara para ministrar uma palestra em seu curso introdutório de teoria literária na USP, no começo dos anos 80. Recordo-me de ter dado uma carona ao Haroldo até o lendário sobrado em que morava na rua Monte Alegre. Ficamos logo amigos. Na mesma época, passei a encontrá-lo no apartamento de Francisco Achcar, que promovia reuniões informais onde se conversava sobre poesia, música, cinema, numa atmosfera de gente que curtia efetivamente literatura. Esses encontros nada tinham de acadêmico. Foi nesse contexto que conheci posteriormente o Augusto e o Décio. Curiosamente, o Francisco foi professor de grego do Haroldo na juventude; anos mais tarde, tive a mesma oportunidade.
Já que estamos falando sobre Haroldo, quais são os desafios de traduzir um texto que já foi traduzido de forma quase que insuperável pelo seu mestre? Existe uma tentação de espiar o trabalho e as soluções encontradas por ele? Em nenhum momento abri a tradução primorosa do Haroldo, enquanto realizava a minha. A influência eventual de sua edição no trabalho que acabo de publicar decorrerá do que está sedimentado em minha memória. Observaria que outros ecos podem ser detectados pelo leitor atento, como, por exemplo, Camões, por cuja cadência clássica me deixei conduzir em vários momentos de minha empreitada. Não faria sentido, nem seria possível tentar acompanhar as colagens compactas, cinematográficas, e a prosódia hiperconcentrada da versão haroldiana. A tensão que Haroldo imprime em sua dicção segue outra direção do recorte que procurei adotar.
Você poderia nos contar um pouco sobre sua práxis tradutória? Não programo as traduções que faço. Elas são despertadas normalmente pelo ato de leitura. O gatilho costuma ser a leitura desprogramada e prazerosa. Ocorre num horizonte diferente, portanto, do projeto ditado pela rotina acadêmica. Durante a tradução, sou levado a ler diferentes autores que me parecem ter alguma conexão com o caminho que acaba se abrindo para mim no processo tradutório. Lembro de ter relido, na ocasião em que traduzi a Ilíada, Valéry, Pascoli, Camões e Sá de Miranda.
E por falar em soluções é claro que também somos levados a pensar nas questões insolúveis, as impossibilidades tradutórias, e aqui sou obrigado a delinear dois tipos bastante distintos de impossibilidade: a impossibilidade semântica (me lembro do professor JAA Torrano que mantém as interjeições, pois para ele estas são intraduzíveis) e a impossibilidade poética (seja ela métrica ou sonora). Um caso específico que me vem em mente é “o áristos” em I – 91 da sua Ilíada. Como lidar com estas questões e decidir o que deve e o que não deve ser traduzido? Não há receituário ou bula para quem se aventure a traduzir poesia de uma perspectiva literária. As soluções surgem a partir da perspectiva em que você se coloca. Eventualmente, certo recorte sonoro de uma palavra sugere a escolha de outra; às vezes, certa sintaxe que você configura acaba sugerindo um percurso inédito. Trata-se de um processo ou de um jogo em que se estabelece uma relação de diálogo aberto com o original, avesso à inibição recorrente no tradutor acadêmico, que sofre quando constata sua incapacidade de se manter fiel ao original. Bernard de Fontenelle escreveu que Homero “podia alongar uma palavra, se ela fosse muito curta, encurtá-la se fosse muito longa, ninguém conseguiria redizê-la. Essa estranha confusão de línguas, esse conjunto bizarro de palavras totalmente desfiguradas, era a língua dos deuses; pelo menos não era com certeza a língua dos homens” (Digression sur les Anciens et les Modernes, 1688). O que o autor está dizendo, em outras palavras, é que, devido às características da língua homérica, está fadado ao fracasso o projeto de reprodução espelhada da Ilíada e da Odisseia. Pergunto apenas se a questão levantada por Fontenelle não envolveria outros poetas.
Outra questão que me vem à cabeça ao pensar na tradução de um épico de proporções homéricas, literalmente, é o que eu gosto de pensar como “fôlego.” Sempre que imagino um rapsodo cantando Homero fico pensando em como esse homem mantém o fôlego por tanto tempo, e acredito que esta questão se aplique de certa forma à tradução. Então, como manter o fôlego, o alto padrão de fidelidade ao texto original e a qualidade final do texto derivado? O maior desafio quando se verte um poema com mais de 15 mil versos é permanecer num patamar de qualidade estética adequado. Homero e os rapsodos antigos levavam uma vantagem sobre seus tradutores: no âmbito das competições de que participavam, provavelmente não reproduziam, em toda a sua extensão, a Ilíada e a Odisseia. Tinham a oportunidade de reconfigurar os episódios que apresentavam em público e otimizar seu padrão verbal. Ao tradutor resta trabalhar com o texto em toda sua extensão. Por isso, o convívio não deve resultar de uma imposição externa, curricular ou rotineira. Não é todo dia que estamos afinados para a atividade. Não se deve colocar numa posição de alguém que lute com o texto original, contrariado com sua enormidade. Procuro trabalhar quando me sinto em sintonia com a obra. Se isso não garante a qualidade final, pelo menos pode ser um bom começo de um processo de viagem textual, insubstituível para quem aprecia poesia.
Alguns meses atrás li o artigo “Dois novos Homeros em diálogo” de André Malta. Me chamou a atenção um trecho em que Malta compara a cunhagens dos epítetos nas traduções de Homero de Christian Werner e na sua Odisseia (a Ilíada ainda estava no prelo). Malta diz que “não se trata de uma questão métrica, porque sob esse critério várias das formas mostram-se equivalentes. O que preside à escolha parece ser sempre a possibilidade de explorar livremente o labor poético.” Eu gostaria de saber: nessa difícil escolha entre métrica e harmonia do conjunto, quem ganha e por quê? Deve-se escolher um critério métrico para traduzir Homero, e é possível traduzi-lo de maneira interessante usando metro fixo ou verso livre. George Steiner apreciava as versões arrojadas de passagens da Ilíada, compostas por Christopher Logue, que chega a atualizar referenciais de armamentos e empregar caixa alta na invocação aos deuses. Logue, ator inglês renomado, vilão em filmes do 007, desconhecia o grego. Também admiro esse trabalho, assim como, mais recentemente o de Alice Oswald. Ou seja: pode-se estabelecer diferentes diálogos com o original. O que se deve evitar é fazer má poesia de um texto da envergadura da Ilíada. Odorico Mendes reduzia o número de versos do original. Não vejo problema nisso, quando se trata de um tradutor de seu nível. Haroldo, cuja versatilidade sintática parece inesgotável, realiza certos giros que recuperam o original em outro ponto. Creio que o melhor é deixar de lado a timidez e o receituário de princípios. Dependendo de certa situação verbal, epítetos podem deixar de ser vertidos. Por outro lado, um mesmo epíteto pode funcionar numa tradução e soar inadequado em outra. Tudo depende do projeto que se adota e do que se busca na leitura. Há quem procure fazer da tradução uma plataforma para comentários filológicos. Nesse caso, o resultado esteticamente modesto incomoda menos o profissional universitário, pois lhe interessa sobretudo a confecção de notas eruditas. A vantagem de haver no mercado traduções motivadas por critérios diferentes é que isso possibilita ao leitor a escolha da mais adequada à sua sensibilidade.
Uma questão que gostaria de colocar é: o tradutor é autor de um texto derivado ou um mero conduíte? O tradutor pode manter com o original um diálogo criativo ou uma atitude submissa. Dependendo da postura que escolha, sua tradução terá esta ou aquela característica. Cabe ao leitor escolher o trabalho que corresponda melhor a suas expectativas. Há o leitor com maior sensibilidade poética. Ele talvez prefira a tradução de caráter mais criativo. Há o leitor com aversão ao dicionário. Ele provavelmente optará pela tradução que empregue um registro mais standard da língua. Há o leitor que pretende encontrar no texto elementos que inspirem a produção de papers importantes para sua profissão. Ele talvez escolha se debruçar sobre traduções norteadas pelas gramáticas.
Como você vê a produção poética atual e qual a importância da Poesia hoje? Não tenho acompanhado a produção poética atual, mas tenho lido e relido poetas que aprecio: Píndaro, Pascoli, Pound, por exemplo. De Pascoli, terminei de ler a edição bilíngue recentemente publicada pela Princeton University Press; de Pound, tenho lido a edição crítica do Cathay e a tradução francesa comentada por Auxeméry de The Classic Anthology Defined by Confucius, ambas publicadas em 2019. De Píndaro, releio seus epinícios em função das traduções a que atualmente me dedico.
E last but not least, uma pergunta que já se tornou lugar comum em minhas entrevistas: quais são os seus conselhos para um jovem tradutor, especialmente um jovem tradutor de poesia? Nada de novo a aconselhar nesse campo, a não ser procurar ampliar ao máximo o repertório de autores em diferentes idiomas. Um ótimo ponto de partida foram para mim as dicas e comentários de Ezra Pound.
*
Mário Coutinho é graduando letras clássicas na USP.






