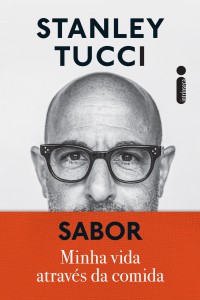Lea trecho do livro Sabor – Minha vida através da comida, do escritor, produtor, ator e diretor nova-iorquino Stanley Tucci, lançado recentemente pela editora Intrínseca.
Em 1982, após me formar na faculdade, me mudei para Nova York, e meu primeiro apartamento na cidade ficava na rua 76, entre a Broadway e a West End Avenue. O bairro, conhecido como Upper West Side, vai da rua 59, ao sul do Lincoln Center, à rua 110, e da Riverside Drive à Central Park West, que são ambas, assim como as ruas transversais menores, exclusivamente residenciais. Paralelamente aos dois últimos, as ruas em sentido norte-sul são a West End Avenue (também exclusivamente residencial), a Broadway, a Amsterdam Avenue e a Columbus Avenue. Nessas últimas três ruas, lojas, restaurantes, academias e outros estabelecimentos comerciais ocupam o andar térreo de inúmeros prédios residenciais. Por várias gerações, o Upper West Side foi o lar de muitas famílias judias, prova disso era o número de delis e padarias judaicas. Além dessas famílias, o bairro também era habitado por famílias de classe média ou da classe trabalhadora, bem como por bandos de atores (em especial de teatro, uma vez que a Broadway ficava no máximo a meia hora de caminhada em direção ao Centro), muitos dos quais moravam em grandes apartamentos alugados.
Eu morava em um apartamentinho térreo, de quarto e sala, e dividia o espaço e o aluguel de 600 dólares por mês com a minha namorada da época e um amigo nosso de faculdade. (Sim, dormíamos todos no mesmo quarto. Não, não na mesma cama.) O apartamento tinha uma sala de estar contígua a uma cozinha e um banheiro (ambos pequenos, com a mesma decoração desde a década de 1960), e o quarto supracitado. A área da sala e da cozinha não recebia nenhuma luz natural porque a janelona dava para o vão interno do prédio. Para piorar, essa janela era protegida por uma grade pantográfica, o que tornava o ambiente ainda mais opressivo. A janela do quarto dava para os fundos dos prédios da rua 75 e, apesar de receber a maravilhosa luz natural aos montes por ser próxima ao térreo, também tinha uma grade pantográfica. Portanto, o apartamento 2-D da rua 76 Oeste era para nós três basicamente uma grande cela de prisão pela qual mal podíamos pagar.
Nosso colega de faculdade acabou se mudando, e pouco tempo depois meu namoro terminou e fiquei morando lá sozinho. Eu gostava de morar sozinho naquela época, até passar um tempo desempregado e não conseguir pagar o aluguel, que subira para 750 dólares. Eu recebia um seguro-desemprego de cerca de 170 dólares por semana, e, sempre que possível, pintava apartamentos para ganhar algum dinheiro. Mas aquele mês específico estava sendo bem ruim e a grana estava curtíssima.
Como eu me recusava a pedir dinheiro emprestado a quem quer que fosse, fui até a Actor’s Equity Association e me inscrevi para obter subsídio do Actors Fund, a que um colega me disse que eu tinha direito. Não era um empréstimo, mas uma verba disponível para artistas sindicalizados que estavam batalhando para se manter. Bastava ser filiado ao sindicato, atender aos requisitos e ter participado de produções da Equity com relativa frequência. Como prova de vínculo, fui instruído a levar os programas dos espetáculos em que eu trabalhara e resenhas das atuações. A ideia toda me embrulhava o estômago, mas eu estava desesperado e era orgulhoso demais para pedir dinheiro a meus pais, mesmo sabendo que me emprestariam de bom grado.
No mês seguinte eu começaria um trabalho, e sabia que o dinheiro entraria; naquele mês, no entanto, não tive alternativa senão engolir minha dignidade e mendigar, por assim dizer. O escritório da Actor’s Equity ficava na Times Square, o coração da Broadway. Mostrei os documentos necessários ao sujeito simpático atrás da mesa, e ele aprovou o subsídio na mesma hora. Eu me senti extremamente constrangido e humilhado, mas muito aliviado. Agradeci de modo efusivo, e, quando me levantei para sair, ele me perguntou se eu precisava de sapatos. “Sapatos?”, perguntei. “Sim, sapatos”, confirmou ele. “Hum, não. Por quê?” “Porque você tem direito a um par, se precisar”, disse ele, com voz macia. “Ah, hum, bem, não. Não preciso. Mas obrigado.”
Ele assentiu, sorriu, e eu saí da sala. Tempos depois descobri que essa ideia de oferecer um calçado era remanescente de uma época em que as pessoas basicamente tinham um único par que usavam todos os dias. Um ator que andasse de teste em teste, dia após dia, atrás de trabalho poderia ter gastado a sola toda e estar precisando de um par novo; então, o Actors Fund instituíra essa política. Não sei se ainda fazem isso hoje em dia, mas acho esse gesto prático de atenção incrivelmente comovente. Alguns anos depois, quando comecei a ganhar um dinheirinho regularmente, doei a eles o dobro da quantia que recebi naquela época. O Actors Fund é uma instituição maravilhosa e necessária que ajuda os membros da Equity em tempos difíceis e na velhice. Se algum dia você for a um espetáculo da Broadway e no final o elenco pedir uma doação, por favor, seja generoso. Nunca se sabe se um artista que você talvez venha a admirar vai conseguir pagar o aluguel daquele mês.
Durante aqueles anos morando sozinho em meu apartamentinho, eu preparava pratos muito simples, mas ainda não me interessava por culinária como hoje. Quase sempre, minhas refeições eram compostas de massa ao molho marinara, peito de frango frito e coisas do tipo. Não me lembro de alguma vez ter usado o forno. Eu cozinhava tudo no estreito fogão a gás de quatro bocas. Quando não cozinhava, geralmente comia em cafés, hamburguerias ou em lugares sino-cubanos (falarei destes últimos logo mais). Em cafés como o John’s, na rua 67, cujas paredes e os reservados ainda exibiam a cobertura esmaltada branca original dos anos 1930, podia-se pedir um café da manhã de ovo frito, picadinho de carne em conserva, torradas, batata frita caseira, suco de laranja e café à vontade por cerca de 3 dólares.
No Cherry Restaurant – de donos asiáticos, esse glorioso café também tinha um cardápio chinês completo –, o almoço composto de sopa e sanduíche (sopa de ervilha e queijo quente ou sanduíche de peito de peru) saciava e era acessível. O jantar era sempre numa lanchonete como a Big Nick’s, cujos hambúrgueres enormes, sangrentos e gordurosos, servidos em um pão fofinho, me dão água na boca até hoje. (Estou com água na boca neste exato momento só de pensar no maldito.) Depois daquela refeição de parar o coração, eu pegava um cinema por cerca de 2 dólares, sozinho ou com amigos, ou ia ao boliche da rua 76 com a Amsterdam, que, por milagre, tinha permanecido igual desde a década de 1940. Lá, eu bebia Budweiser ou Miller High Life long neck, comia sanduíche de queijo fundido no pão de forma, mesmo tendo comido praticamente metade de um boi uma hora antes, e nunca gastava mais do que 10 paus.
Como o West Village, o Upper West Side também tinha uma grande comunidade gay, e a Amsterdam e a Columbus Avenues tinham muitos bares e restaurantes administrados por eles e de sua propriedade. Infelizmente, a partir de meados dos anos 1980, veio a gentrificação e muitos prédios foram transformados em condomínios e cooperativas ou simplesmente demolidos para dar lugar às novas e mal projetadas moradias da turma que chegava aos montes, a preços que a maioria das pessoas não podia pagar. A subida vertiginosa dos aluguéis causada por esse processo também coincidiu com a epidemia de AIDS, que forçou o fechamento de muitos estabelecimentos à medida que a doença ceifava a vida de seus proprietários e dizimava fileiras de seus dedicados clientes. À medida que se tornava menos diversificado em todos os aspectos e os negócios independentes – que eram o ganha-pão dos moradores e davam à área seu clima característico – desapareciam, o bairro acabou repetindo o padrão visto no restante do país. Um por um, antigos cafés como o John’s e o Cherry Restaurant desapareceram, e logo foram substituídos por Starbucks ou similares. Lojas de ferragens e de vestuário deram lugar a enormes redes varejistas, e a mesma coisa aconteceu com farmácias, sapatarias, livrarias e barbearias, sendo que muitas destas últimas conservavam o mesmo interior desde seu apogeu, nas décadas de 1930 e 1940. O belo boliche da época da Segunda Guerra Mundial foi demolido e transformado num salão de bilhar “de luxo” com decoração barata.
Muitos restaurantes pequenos, que refletiam a diversidade étnica e cultural do bairro, também se perderam. Antes da gentrificação, havia uma boa quantidade de delis judaicas que serviam pratos clássicos como sopa de bolinhas de matzá, latkes de batata, sanduíches de pastrami (embora nenhum chegasse aos pés daqueles da infelizmente finada Carnegie Deli) e babke de chocolate. Deixemos o Upper East Side por um momento e desçamos umas vinte quadras para que eu possa chorar a perda deste Éden das delicatéssens. A Carnegie Deli foi fundada em 1937 e tornou-se uma instituição igualmente adorada por nova-iorquinos e forasteiros.
Sempre que um restaurante é descoberto pelos turistas, os clientes locais costumam ir para outros lugares. Mas não foi o que aconteceu com a Carnegie Deli. Os nova-iorquinos passaram a frequentá-la em horários pouco usuais, quando a interminável fila de espera já tinha desaparecido e o salão não estava mais tão cheio a ponto de ser uma armadilha em caso de incêndio, mas não deixaram de ir. E, verdade seja dita, era impossível evitar a Carnegie Deli. A comida era boa, sim, mas ir até lá também era uma desculpa para tomar uma dose da boa e velha Nova York enquanto a maior parte da cidade estava sempre se renovando e renovando e renovando. Se tivesse uma reunião, um teste ou estivesse atuando na Broadway, eu parava na Carnegie Deli para comer canja de galinha (com macarrão e bolinhas de matzá, sim, muito obrigado, vou querer os dois) e um sanduíche recheado com uma torre de pastrami. Toda deli judaica serve sanduíches compostos de quantidades enormes de carne ou frango ou pasta de atum entre duas fatias de pão. (Por favor, procure no YouTube os esquetes brilhantes e hilários de Nick Kroll e John Mulaney em um café que giram em torno de “tem atum demais!”. Sua vida mudará para melhor.) Só que a Carnegie Deli levava isso ao extremo. Seu lema era “Se você terminou a refeição, fizemos alguma coisa errada”. Mas embora os sanduíches fossem descomunais e quase ninguém tivesse sido pressionado a sequer botar o gigante de pão de centeio e pastrami ainda quente na boca, muito menos a terminá-lo, não era permitido dividir pratos para um. Então, eu e um amigo pedíamos um sanduíche cada, comíamos o quanto desse, e levávamos o restante para comer em casa na ceia. Se a fome fosse muita, eu também pedia latkes do tamanho de um Frisbee com molho de maçã.
Enquanto aguardava, eu bebericava uma cerveja ou um refrigerante e comia os picles da tigelinha de aço inoxidável que havia em todas as mesas, boiando em salmoura e em temperatura ambiente. Eu gostava mais de picles sem vinagre, e tentava não pensar em quando fora a última vez que aquele líquido turvo tinha sido renovado nem em quantas mãos tinham tentado pescar “aquele” picles que seria “o mais saboroso”. Se estivesse me sentindo particularmente tcheckhoviano, às vezes eu pedia borscht em vez de canja de galinha. Toda e qualquer coisa ali era deliciosa. A comida da Carnegie Deli aquecia você dos ventos de uma noite gelada de inverno, depois de assistir a algum espetáculo da Broadway ou de dança no City Center, a poucas quadras dali. Ela forrava o estômago e reconfortava a alma de quem entrasse tarde da noite depois de algumas doses a mais em algum bar barato do Centro, a caminho do apartamento de um quarto onde você achava que moraria pelo resto da vida se não arrumasse um emprego em breve.
Como tantos restaurantes e bares antigos e maravilhosos da cidade de Nova York, a Carnegie Deli não existe mais. (Sendo honesto, a Carnegie não fechou pelo aumento do aluguel nem porque o prédio foi demolido, mas porque a proprietária, da segunda geração da família, estava de saco cheio, o que, embora naturalmente seja prerrogativa dela, ainda assim é uma enorme perda para nós.) Como já mencionei, a gentrificação em Nova York causou o fechamento de muitos estabelecimentos que não desejavam fechar, bem como a destruição de incontáveis prédios e lugares de significativa importância cultural. (Um exemplo emblemático é a antiga Penn Station, brutalmente arrasada depois de míseros sessenta anos embelezando a cidade com sua magnificência.) Não sei por quê, mas nós, americanos, não sentimos obrigação de preservar nada. Para nós, uma coisa que existiu é inferior ao que existe ou ao que poderia existir.
Como crianças e adolescentes, ainda não aprendemos que o presente não é a única coisa que existe. Mudar é bom, é óbvio, mas não há necessidade alguma de obliterar o passado enquanto se cria o futuro. Ambos podem, e devem, conviver. Lugares maravilhosos, alguns deles muito antigos, como o Lüchow’s, o Gage & Tollner e o Oak Room, no Hotel Plaza, ou mais novos, como o Elaine’s, o Kiev e o Florent, já desapareceram. A principal razão para isso é quase sempre fi nanceira. Ou o aluguel sobe, ou a economia entra em queda, ou um dono de mente tacanha não permite que sua equipe se sindicalize, ou os lugares simplesmente saem de moda. Às vezes os tempos e os gostos mudaram, mas os cardápios e a decoração, não. Se esses estabelecimentos tivessem aguentado um pouquinho mais, muito provavelmente uma nova geração teria redescoberto seus pratos clássicos e seu charme retrô e os teria ressuscitado. Naturalmente, ainda existem restaurantes antigos pela cidade – como o Delmonico’s, o Peter Luger, a Fraunces Tavern, o Old Homestead e o Barbetta –, mas, considerando a dimensão física da cidade e o fato de que NY tem mais de 8 milhões de habitantes, esse é um número baixo. Paris, com 2,2 milhões de habitantes, tem dezenas de restaurantes clássicos.
Quem seríamos nós, qualquer pessoa, se nossos pais e avós não tivessem valorizado tradições familiares e transmitindo-as com reverência na forma de roupas, porcelanas, faqueiros, livros, obras de arte, diários e tantas coisas mais? Esses mementos não precisam ser de grande valor monetário, basta que tenham valor afetivo. Tenho caçarolas e panelas que eram da minha mãe e das quais nunca vou me separar, não só porque “ninguém as fabrica mais daquele jeito”, mas também porque esses objetos me lembram ela e as refeições extraordinárias que preparou para nossa família. Se desfazer de uma relíquia de família é um tipo de perda muito tangível; são coisas que jamais poderão ser substituídas ou recriadas. Mas talvez as relíquias mais preciosas sejam as receitas. Tais quais os objetos, elas nos lembram de quem e de onde viemos, e, a cada garfada, nos oferecem histórias de pessoas de outros lugares e tempos. Diferentemente das heranças físicas, no entanto, as receitas são uma parte da nossa história que sempre poderá ser recriada. A única forma de se perderem é se nós escolhermos perdê-las. Sei que o progresso é bom para a economia e que negócios são negócios, mas esse expurgo descuidado de restaurantes consagrados e seus pratos clássicos – receitas históricas que ajudaram a moldar a identidade de uma cidade – é uma perda enorme para qualquer cultura, independentemente da forma como se queira recordar essa história. E se ela lembrar as proporções servidas em uma boa deli judaica, particularmente como a Carnegie servia, veremos que a perda é de fato estarrecedora.
Sigamos caminhando rumo ao Upper East Side. Hoje, serpenteando pelas ruas no sentido norte, vemos uma paisagem culinária bem diferente da que encontrei quando me mudei para cá, há quase quarenta anos. O Columbus Circle agora acomoda um edifício gigantesco que abriga o Mandarin Oriental, uma casa de jazz, escritórios e apartamentos, bem como um shopping elegante e alguns restaurantes. Se tiver muita grana, você poderá comer em qualquer um deles, mas só se tiver roubado um banco recentemente você conseguirá comer no Per Se, onde um jantar começa em 335 dólares pelo menu degustação de nove pratos, sem vinho. Exatamente como eu disse, sem vinho. O vinho não está incluso. Não há harmonização de vinho com o seu menu degustação de 335 dólares. Se quiser economizar um pouco e trazer sua garrafa, há uma taxa de rolha de 150 dólares por garrafa. A taxa de 8.875% sobre o consumo também não está incluída. Nem o vinho, como acho que já mencionei. Uma pechincha como nunca se viu. Nunca comi no Per Se, mas ouço dizer que é ótimo. Ainda no sentido norte, passamos pelo Jean-Georges Vongerichten, no Trump International Hotel, epônimo de um restaurante tão maravilhoso quanto seu senhorio é demoníaco. Subindo a Broadway, observamos que muitos restaurantes bem bons, e bem caros, surgiram nas duas últimas décadas, juntamente com lojas de redes como Gap, Brooks Brothers, Pottery Barn, além de 117 Starbucks. Quando enfim chegamos à rua 78, encontramos o La Caridad, um restaurante cinquentenário que é uma joia.
O La Caridad é um dos últimos remanescentes sino-cubanos em Manhattan. Fundado no fim da década de 1960 por Rafael Lee – imigrante chinês que primeiro morou em Cuba e só depois veio para os Estados Unidos –, o restaurante hoje é tocado pelo filho de Rafael, e continua servindo pratos cubanos e chineses a preços muito razoáveis. Se você não é de Nova York, pode bem estar se perguntando: “O que, por que e, como assim, sino-cubano?”. A resposta é que muitos chineses emigraram para Cuba em meados do século XIX em busca de trabalho na construção de ferrovias, depois novamente na virada do século e também ainda mais tarde, quando o camarada Mao assumiu o poder. No início da Revolução Cubana, muitos sino-cubanos fugiram mais uma vez do regime comunista e vieram parar em Nova York. Aqui, abriram restaurantes cujos pratos refletiam sua dupla ascendência. Meu primeiro apartamento ficava a meras duas quadras do La Caridad; portanto, eu podia ser encontrado a uma das mesas com bastante frequência. Sempre havia pelo menos alguns táxis parados à porta. Os taxistas, que assim como nós sabiam que a comida era boa, o serviço, rápido como um raio, e os preços, baixíssimos, comiam em embalagens para viagem.
Em relação ao ambiente, o La Caridad é uma espécie de aquário, uma vez que duas das faces contêm longas vidraças, uma que dá para a Broadway e a outra, para a rua 79. Os pedestres adoram espiar o salão enquanto esperam no ponto o ônibus da Broadway, assim como os clientes passam horas sentados lá dentro, observando a multidão em mangas de camisa seguir sua rotina lá fora. É um lugar de tamanho modesto, que acomoda cerca de quarenta pessoas, e a decoração é mínima. Os atendentes às vezes são meio grosseiros, mas, em geral, simpáticos daquele jeito ligeiramente blasé com que os garçons profissionais são em geral simpáticos. Pode-se pedir uma sopa wonton de entrada, com rabada ou arroz frito com camarão de acompanhamento, ou, quem sabe, uma roupa-velha, tudo a preços bem acessíveis. Um frango frito ligeiramente gorduroso demais (principalmente coxa e sobrecoxa), porém delicioso, acompanhado de feijão-vermelho ou feijão- -preto, banana frita, e uma salada de abacate e cebola custarão de 6 a 8 dólares, pelo que me lembro.
É claro que ao longo das últimas quatro décadas os preços subiram, mas ainda é muito razoável. Como outros restaurantes sino-cubanos de antigamente, o La Caridad era um dos únicos que tinham máquina de café expresso, e embora o preparo não fosse exatamente como o de Roma, era um descanso bem-vindo daquela água suja e ácida que tentavam nos vender como café na maioria das cafeterias da área. No La Caridad, um prato oval grande de camarão com arroz amarelo e ervilhas e acompanhamento de feijão-preto era o suficiente para saciar um jovem ator por algumas boas horas até a fome bater de novo e ele ser obrigado a preparar mais um jantar de massa marinara regada a alguma sobra de tinto barato, porque o orçamento do dia já havia acabado. Lá no fundo do coração e do estômago, no entanto, o jovem ator sabia que tinha valido a pena. Sempre que estou em Nova York, vou ao Upper West Side e fico feliz de ter sido parte dele por tantos anos da minha juventude. Como eu disse, o bairro mudou muito, um pouco para melhor e um pouco para pior. Está mais seguro e mais limpo, mas muito da textura do passado se perdeu. Ainda faço questão de comer no La Caridad, não só porque adoro o restaurante, mas também porque, assim com a maioria dos outros lugares em que eu jantava, todos os restaurantes sino-cubanos num raio de vinte quadras desapareceram. A área foi tomada por cafés sem alma, governados por baristas tatuados que perguntam nosso nome só para escrevê-lo em seus copos ecológicos e depois gritá-lo para o mundo inteiro quando o pedido estiver pronto. É nesse tipo de lugar que hoje compramos um café pelo preço que, em minha juventude, comprava-se uma refeição farta, acompanhada de uma inusitada fatia de história da culinária étnica.
*
Sabor – Minha vida através da comida, de Stanley Tucci (Intrínseca, 320 págs.)